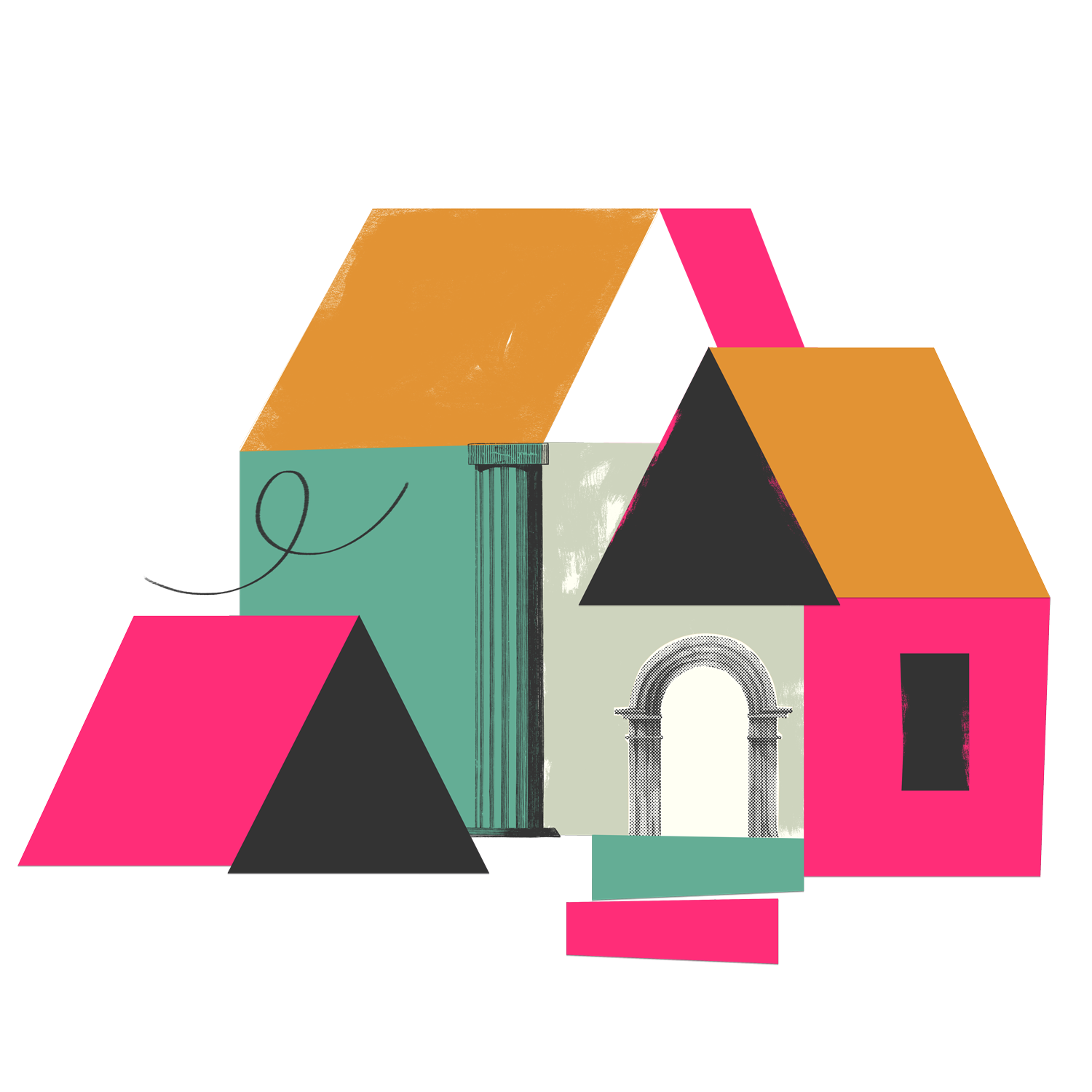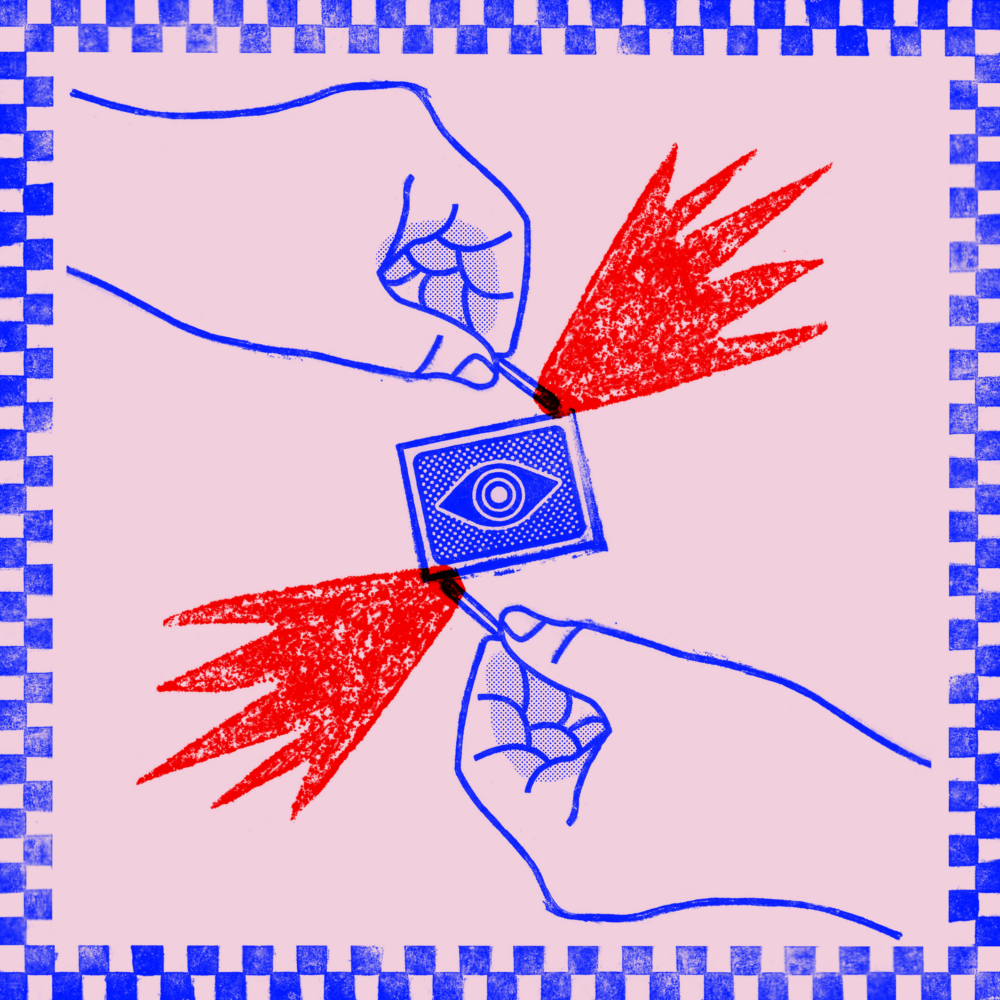
As ilustrações que acompanham esse ensaio foram criadas por Laura Morgado (@laura.morgad no Instagram) especialmente para a Recorte.
Talvez por falta de compreensão ou por anseio de mudança, é comum que designers se dediquem à reflexão sobre a natureza de sua atividade. Para constatar tal fenômeno, é suficiente observar, ainda que de forma superficial, os debates que ocorreram ao longo da história do design. O campo é um dos que, com uma curiosa frequência, se coloca como seu próprio objeto de estudo. Faça um teste: abra dois ou três livros de design, mesmo que de assuntos diferentes, e perceba que muitos deles definem o “design” logo em suas introduções. Ora, isso é um sintoma. Pode-se encarar, por um lado, como um sinal de que seus teóricos possuem certa fixação por definições acabadas e dicionaristas – o que é verdade –, mas também é possível que indique uma busca por sua própria identidade, uma forma de se reconhecer enquanto campo. Trata-se de uma área que ainda procura descortinar seus limites, relações e determinações mais gerais. Talvez – e é importante ressaltar que isso não é uma conclusão definitiva – seja porque a teoria do design ainda não tem consensos sólidos que permitam seu avanço científico – exceto, é claro, o fato de que o debate em torno da distinção entre forma e função precisa ser atualizado.
Importante salientar que por reflexões considero tanto aquelas registradas nos debates teóricos quanto as que surgem espontaneamente nos espaços de formação, trabalho e mesmo nos projetos dos designers.
Outros campos também refletem1 sobre sua própria natureza com frequência. A filosofia, por exemplo, possui uma longa tradição nesse sentido, assim como a arte em suas diversas expressões. No entanto, com a atividade projetual, parece haver uma diferença significativa. Os designers continuamente se importam com a utilidade e o sentido “social” de suas criações. Embora acredite que essa inquietação reflita uma dificuldade em compreender suas próprias potencialidades e limitações, penso que há outro elemento interessante e até mais relevante para o nosso debate: os designers possuem preocupações eminentemente éticas e práticas: “devo escolher este material de menor custo ou aquele mais caro, mas ecologicamente mais sustentável?”; “devo projetar um produto que seja honesto com o usuário ou lucrativo para a empresa?”; “será que o conteúdo para o qual estou dando forma está alinhado com minhas convicções pessoais?” e assim por diante.
Reformulação de uma frase de Lênin, teórico e líder da Revolução de Outubro na Rússia, para quem o marxismo deveria ser entendido como um guia para ação, e não um dogma.
Marx ponderou a esse respeito na segunda tese sobre Feuerbach, publicada no livro A ideologia alemã (Boitempo, 2007): “A questão de saber se ao pensamento humano cabe alguma verdade objetiva [gegenständliche Wahrheit] não é uma questão da teoria, mas uma questão prá- tica. É na prática que o homem tem de provar a verdade, isto é, a realidade e o poder, a natureza citerior [Diesseitigkeit] de seu pensamento. A disputa acerca da realidade ou não realidade do pensamento – que é isolado da prática – é uma questão puramente escolástica”.
A questão da indiferença política como apologia à ordem dominante está presente na obra de vários teóricos. Paulo Freire, por exemplo, nos diz que “toda neutralidade afirmada é uma opção escondida” (Diálogo com Paulo Freire, de Carlos Alberto Torres, publicado por Edições Loyola, 2003). Já Gramsci, parafraseando um poeta italiano em texto publicado em 1917, acredita que “[…] ‘viver significa tomar partido’. Não podem existir apenas homens, estranhos à cidade. Quem verdadeiramente vive não pode deixar de ser cidadão, e partidário. Indiferença é abulia, parasitismo, covardia, não é vida. Por isso odeio os indiferentes”.
Este é o ponto ao qual quero chegar nesta introdução: as inquietações éticas e teóricas que afligem os designers surgem, com respeitosa frequência, a partir de problemas práticos do seu cotidiano. E isso não poderia ser diferente. Se consideramos que a teoria deve servir como um guia para a ação2, também devemos compreender que os problemas teóricos, por mais abstratos que sejam, sempre estão enraizados em problemas materiais. E, como sabemos, não são as palavras, mas sim as ações que dão conta de resolver os problemas com os quais nos defrontamos. As ideias, do mesmo modo, não gracejam apartadas da realidade. Pelo contrário, em muitos casos, independentemente das intenções de seus autores, elas se defrontam com a realidade das formas mais imprevisíveis3. Portanto, se a ética e as lacunas na definição do que é design vão de encontro à prática, nos são impostas as seguintes questões: como deve ser a ação política dos designers e quais são os seus limites?
O designer que questiona a sustentabilidade de seu trabalho, a honestidade de seu produto ou os propósitos de sua atividade se vê, de uma maneira ou de outra, compelido a adotar uma posição diante do estado das coisas. Na vida social estamos todos implicados, mesmo quando nos omitimos. Afinal, não assumir uma posição já é, por si só, uma posição – talvez uma das mais odiosas, aliás4
Nesse contexto, se a tomada de posição é inevitável, temos de considerar também como ela deve ocorrer. Surge, então, a questão da ação política consciente, que nos leva a mais uma pergunta: quais princípios devem orientar essa ação? Somente a partir dessas reflexões é possível compreender o debate que travamos sobre o reformismo e o liberalismo como conjuntos de ideias e práticas amplamente presentes na ação política dos designers.
Parto da ética em minha exposição tão somente porque é o que muitos de nós fazemos quando decidimos agir politicamente. Além dos nossos interesses de classe, muitas vezes somos movidos por uma inquietação subjetiva diante das injustiças do cotidiano, sejam elas direcionadas a nós ou não. Entretanto, que fique bem claro: considero que a posição ética de cada indivíduo é insuficiente para explicar suas ideologias e, ainda mais, os conflitos sociais. Nesse sentido, ao levantar questões sobre reformismo e liberalismo, não estou falando da ética do design propriamente dita – embora invariavelmente a atravesse. Para nós, marxistas, os dilemas acerca da ação política não são meramente éticos, mas de organização política.
Organização dos designers: um panorama nada positivo
Trecho extraído do ensaio “Designers ou Militantes Organizados? Notas para um debate“, publicado em agosto de 2022 na plataforma Mídia Ninja (midianinja.org).
Sempre que tratamos da ação política consciente, estamos falando de táticas, estratégias, espaços de disputa e debates de ideias. É comum que os designers interessados em atribuir uma “função social” às suas habilidades procurem realizá-la em espaços que lhes pareçam mais adequados ou confortáveis. Nesse sentido, há um aumento de iniciativas na internet que buscam pensar alternativas ao design hegemônico. Páginas de redes sociais voltadas para o tema, grupos de estudo, podcasts, coletivos e uma variedade de produções e projetos estão empenhados nessa empreitada. Embora essas iniciativas sejam importantes, em muitas delas faltam coesão e princípios ideológicos comuns que possibilitem o avanço de seus trabalhos além dos espaços já consagrados da crítica do design. Por isso, coaduno com as provocações feitas por Rafael Bessa: “a criação de peças gráficas com mensagens políticas é, por si só, um design ativista? Pode o design gráfico causar uma mudança positiva na sociedade?”5.
Por mais importante que seja a produção de conteúdo digital, considero problemático enxergá-la como o melhor exemplo de como designers podem praticar uma ação política eficaz. Não menosprezo de forma alguma iniciativas que direcionam seus esforços nas redes sociais, pelo contrário, acredito que elas servem como um estímulo importante para que os designers possam produzir de maneira mais inventiva e combativa. No entanto, é necessário questionar: qual é o projeto político subjacente a um design ativista? Devido às fragilidades do conteúdo político e à falta de formas organizativas coesas, essas iniciativas podem facilmente se transformar em ações políticas meramente performáticas, ou seja, quando o conteúdo se subordina à forma.
Em que isso resulta? Justamente na “sinalização de virtude”, que Eduardo Souza aborda em seu texto “Ainda existe design(er) ativista?“, publicado na Recorte Ano 2 – 2022, a partir das reflexões de Jia Tolentino no livro Falso espelho (Todavia, 2020). Com a licença da hipérbole, esse tipo de ação é comparável à Paolla Oliveira pintando uma unha de branco pela paz, só que, em vez da unha, são os cards para redes sociais e, em vez da paz, é convocada a “responsabilidade social” do designer. Acredito que as debilidades dessas iniciativas decorrem principalmente da ausência de uma cultura política organizativa no design. Simplesmente não existem grandes referências de luta, organizações que amparem ações mais combativas ou tradição teórica crítica.
A despeito da ausência da referida cultura política, pode-se argumentar que essas iniciativas promovem um importante avanço na organização e conscientização política. Mas será mesmo? Em que medida essa intenção se concretiza? Quais foram, por exemplo, as grandes pautas unificadas levantadas por designers nos últimos 10 anos? Me recordo apenas da luta pela regulamentação da profissão. O problema é que, sem sindicatos, associações, entidades nem organizações de base, fica difícil saber. A estruturação das pautas da categoria fica à mercê do espontaneísmo dos designers por meio de pequenas iniciativas individuais. Ou, então, do trabalho realizado pelas Associações de Design, que, por sua natureza, possuem um caráter mais institucional e que em muito pouco se constituem como órgãos de classe. Como resultado, não há um trabalho de mobilização ou divulgação em torno de demandas comuns, como melhores salários, condições de trabalho mais dignas, redução do trabalho informal, sindicalização, entre outras.
Poderia ser diferente? Evidentemente que sim. Podemos considerar, por exemplo, as lutas travadas pelos enfermeiros em busca do estabelecimento de um piso salarial no início de 2023. Encampada em nível nacional, houve protestos em várias capitais do país, além de ações de propaganda junto à base da categoria, promovidas pelos sindicatos. Apesar de o STF ter vetado o piso salarial e de os planos de saúde continuarem pressionando para que ele não seja aplicado, a mobilização constante resultou em importantes ganhos políticos.
Compreendo o alerta de Virgínia Fontes, rememorado por Bessa em seu texto, de que “organizações corporativas (que representam uma categoria profissional específica) também são limitadas por sua própria natureza”. No entanto, no campo do design, a situação é de quase completa anomia. Não existem sequer estatísticas que apresentem a condição atual, além disso, pesquisas sobre a situação dos designers são escassas. A maioria dos dados aos quais temos acesso provém de levantamentos realizados por institutos e empresas privadas, que enfrentam problemas de amostragem e confiabilidade. Na verdade, quando se trata de analisar a situação do designer brasileiro, estamos às escuras. Além disso, a teoria do campo carece de uma literatura crítica abrangente que possa orientar a ação política dos profissionais da área. Nesse sentido, iniciativas de pequenas editoras e revistas, como a Recorte, desempenham um papel importante na efervescência do debate crítico entre designers.
Os motivos para tal distanciamento? Talvez medo, ojeriza, apologia… Embora essa seja uma questão ideológica instigante, ela foge às linhas de nosso debate e por isso não será trabalhada aqui.
O que se depreende desses aspectos é um fenômeno um tanto curioso: o design se coloca como objeto de estudo, mas esquece de estudar a situação dos próprios designers. A produção teórica do campo ainda mantém certa distância dos debates em torno de temas fundamentais, como organização política, processo produtivo, exploração e capitalismo6.
No movimento estudantil de design, a situação não é muito diferente. Trata-se de uma frente de luta que possui uma longa tradição encontrista. O Encontro Nacional dos Estudantes de Design (N Design), por exemplo, já foi considerado o maior evento de design da América Latina e, por 30 anos, reuniu designers de todo o país em um estado diferente a cada edição. Um aspecto muito importante a destacar sobre o N Design é que seu financiamento e organização eram feitos pelos próprios estudantes, assim como os Encontros Regionais (R Design), versões compactas dos eventos nacionais realizados em diferentes regiões do país. Esse fato demonstra um alto grau de maturidade organizacional por parte das entidades de base, capazes de levantar recursos suficientes para realizar grandes atividades. Todos esses eventos eram realizados sob a orientação do Conselho Nacional dos Estudantes de Design (CoNE), que, embora já tenha sido uma entidade deliberativa de nível nacional, hoje funciona como fórum – fato que indica um descenso do movimento estudantil de design –, onde são debatidas as questões mais candentes da universidade pública e do design brasileiro.
Apesar de o movimento estudantil de design ter uma tradição de décadas, ele ainda enfrenta os mesmos desafios de continuidade do trabalho sindical. Existem Diretórios Acadêmicos (DA) de design nas principais universidades do país, muitos dos quais desenvolvem um trabalho exemplar ao organizar semanas acadêmicas, atividades formativas e participar das lutas estudantis. No entanto, devido a diversos fatores, como a pandemia de covid-19 e certa distinção e distanciamento entre o movimento estudantil “comum”, promovido por coletivos, partidos e organizações estudantis e o movimento estudantil de design, essas entidades sofrem com uma capacidade reduzida de mobilização, formação e capilaridade entre os estudantes. Como resultado em médio prazo, o que se desenha é a descontinuidade do trabalho, problema comum ao movimento estudantil devido à sua própria natureza: estudantes se formam, fazem estágios, deixam a universidade. Por exemplo, o N Design, apesar de sua tradição de décadas, já não é realizado presencialmente há mais de três anos. O mesmo se aplica aos R Design.
Entre reformismo e o liberalismo: o design fragmentado
Como compreender, então, essa anomia e os refluxos nas lutas dos designers? Do ponto de vista ideológico, grosso modo, penso que isso pode ser explicado pela predominância de teorias apologéticas, oscilantes, cada vez mais liberais e, quando muito, reformistas. Em termos gerais, podemos considerar que, na teoria do design, entre as décadas de 1970 e 1980, a maioria das produções partilhavam do ideário reformista. O próprio debate em torno da forma e da função é, essencialmente, um debate sobre forma e função da mercadoria produzida em circunstâncias capitalistas. Grandes teóricos do campo, influentes também no Brasil, como Maldonado e Bonsiepe, embora façam críticas importantes, concentram suas discussões em como os designers podem projetar de maneira mais eficiente dentro das condições de produção tal como estão dadas, isto é, da produção capitalista.
As criações da Bauhaus e da Escola de Ulm, embora revestidas de preocupação social, não estavam isentas nesse sentido. Ambas as escolas não funcionaram de maneira homogênea ao longo de sua existência, mas passaram por períodos de maior ou menor avanço político e atividade crítica. Mesmo as discussões sobre ecologia, que ganharam destaque no campo por meio de figuras como Papanek, Manzini e Vezzoli, apesar de suas boas intenções, estão eivadas de uma perspectiva reformista.
Naturalmente, a produção teórica do design nunca foi homogênea, mas aqui estamos lidando com uma questão de hegemonia. Gradualmente, as teses reformistas perderam força, cedendo espaço às perspectivas neoliberais sobre o design. É mais ou menos isso que Iraldo Matias argumenta em sua tese Projeto e Revolução (Editora em Debate, 2014) sobre a “virada gestorial” no campo. Matias sustenta que, desde a metade da década de 1990, a gestão empresarial passou a prevalecer no design, juntamente com o conjunto de ideias liberais atreladas a ela: ênfase no indivíduo e na empresa, enfoque no lucro, na “inovação” e na concorrência. Essa nova abordagem, que combina princípios de marketing e administração, teve profundos efeitos no design.
Este argumento é defendido por Contino com base em Cipiniuk em sua tese de doutorado na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), Design, ideologia e relações de trabalho: uma investigação sobre a indústria da moda no capitalismo tardio, defendida em abril de 2019.
De maneira semelhante, Contino7 afirma que, devido aos avanços tecnológicos na informática, robótica e inteligência artificial, e às transformações nas formas de realização do trabalho, há quem considere que o paradigma do design mudou: aos poucos, a ênfase passou dos produtos para os processos. Agora, o design não está mais restrito aos objetos, mas se expande como um modo de projetar – um conjunto de métodos e princípios que, para alguns, tem aplicação universal. Aparentemente há um “jeito design” de fazer qualquer coisa que só há pouco foi descoberto: de smartphones a panquecas, tudo pode ser “designeado” em sua execução. Com o design thinking, o design centrado no humano e diversas outras abordagens, a atividade de design se tornou o “campo expandido” da produção. Com isso, paradoxalmente, na minha análise, ocorreu uma fragmentação do design. Com permissão de sua paciência, explicarei.
Frase presente no livro A ideologia alemã, publicado pela Boitempo em 2007.
Note que, ao nos referirmos ao reformismo e liberalismo no design, até então estamos tratando de aspectos puramente ideológicos. No entanto, as ideias possuem um substrato material; elas correspondem, entre outras coisas, às lutas da vida cotidiana, às posições de classe de seus proponentes, a experiências empíricas etc. Quando Marx e Engels afirmam que “as ideias da classe dominante são, em cada época, as ideias dominantes”8, eles estão simplesmente destacando que essas ideias encontram respaldo material no domínio de uma classe. É a classe hegemônica que controla as grandes editoras, livrarias, produtoras de música e cinema; os principais veículos de comunicação, as redes sociais e também influencia o que é ensinado nas escolas e universidades. Em suma, a classe dominante possui os meios de produzir ideologia. Nesse sentido, a veiculação de suas ideias é muito mais fácil, rápida e convincente do que as ideias revolucionárias da classe trabalhadora. As ideias – e ideologias – das classes dominantes nos parecem quase naturais, por assim dizer.
Tá, mas qual é a relação disso com a fragmentação do design? Se partirmos do princípio de que as ideias estão conectadas a um substrato material específico, a um período histórico e, frequentemente, a determinadas classes, embora esse processo não seja mecânico nem determinístico, devemos então nos fazer a seguinte pergunta: onde estão as causas materiais que explicam a transição do domínio das ideias reformistas para o das ideias neoliberais no design? Em minha opinião, tais causas estão relacionadas ao processo conhecido como reestruturação produtiva do capital, sobre o qual tenho pesquisado atualmente.
A crise dos anos 1970, chamada por alguns de crise de superprodução, foi multifatorial, assim como qualquer outra. Entre suas principais causas estão o fim do padrão dólar-ouro, os choques do petróleo, a estagnação da produção de bens e a alta inflação de preços ao redor de todo o mundo.
Em termos gerais, desde a década de 1970, ocorreram profundas alterações na forma de acumulação de capital devido à crise que assolou o mundo capitalista9, ao desenvolvimento das forças produtivas, à expansão de novos mercados e do chamado “setor de serviços”. Paralelamente, a produção também passou por transformações. A partir desse período, observa-se uma gradual mudança na composição da classe trabalhadora, com uma diminuição crescente do número de trabalhadores industriais e aumento daqueles dedicados ao setor de serviços.
Sim, o termo toyotismo deriva da empresa Toyota, considerada uma das primeiras a implementar esse modelo de produção.
Para explicações mais aprofundadas a respeito do tema, recomendo as obras de Ricardo Antunes e Giovanni Alves.
O desenvolvimento da telemática, informática e robótica alcançou novos patamares com os avanços na microeletrônica. A divisão internacional do trabalho foi então redesenhada com a chegada de uma nova “Revolução Industrial”, que permitiu aos países centrais do capitalismo desenvolverem novas tecnologias, enquanto os países periféricos do sistema capitalista se dedicaram à produção de commodities, como minérios necessários à produção de tais tecnologias e outras mercadorias de baixo valor agregado. Foi nesse contexto que surgiu o que conhecemos hoje como produção flexível, liderada pelo toyotismo10, que foi implementada em várias indústrias, especialmente a automotiva. Esse modelo é o que vigora em grande parte do modo de produção capitalista11 e por isso determina também a produção do design. Vejamos a seguir como algumas características mais gerais do toyotismo se expressam no design.
O toyotismo é norteado pelo estoque mínimo, que faz com que a produção seja realizada conforme a demanda e o consumo, diferentemente do fordismo. Obedecendo a esse princípio, o trabalho do designer ocorre sempre em um contexto em que “tudo é para ontem”, afinal, os produtos são feitos à medida em que são demandados pelos clientes. Por isso, o designer passa a buscar antever padrões de consumo e racionalizar a produção sempre que necessário. Outra característica do toyotismo que podemos encontrar no design é a máxima otimização de tempo e de recursos juntamente com o mínimo desperdício de matéria-prima. Afinal, o bom design é aquele que custa pouco e potencializa modos de fazer, não é mesmo?
A horizontalização da produção também desempenha um importante papel. Trata-se de uma reorganização da divisão do trabalho, na qual pequenas equipes passam a coordenar, simultaneamente, diferentes partes do processo produtivo. Muitas vezes, ela é acompanhada de uma gerência participativa, em que o trabalhador é chamado a decidir sobre aspectos superficiais da produção. Os designers se tornam supervisores de sua própria atividade e são convocados a coordenar diferentes equipes, squads e coisas do gênero, que antagonizam o ultrapassado “modelo cascata” de decisão e obedecem ao que há de mais recente em “método ágil”, “lean”, “scrum”.
O sindicalismo de empresa ganhou força com a ascensão do neoliberalismo em todo o mundo e é caracterizado pela ausência do aspecto classista e pela adesão à cultura e projeto das empresas. Até mesmo as reivindicações salariais perdem o caráter de classe e de mobilização dos trabalhadores e se tornam negociações de cunho administrativo. O sindicato se torna uma extensão da própria empresa.
A horizontalização demanda também a apropriação do componente cognitivo do trabalhador. Com o toyotismo, a força de trabalho é completamente integrada à produção, inclusive suas possíveis contribuições intelectuais. Não é apenas uma dimensão da força de trabalho – seja material, seja intelectual – que é submetida ao capitalista, mas sim toda a capacidade de trabalho. Assim, os designers têm que se esforçar para o sucesso da empresa dando tudo de si, inclusive sugestões e ideias ditas inovadoras para melhorar a produção, aumentar vendas, melhorar fluxos. O capitalista, sob o pretexto dos hackathons, que nada mais são que períodos de trabalho criativo intensivo e muitas vezes não remunerado, se apropria das contribuições intelectuais de seus empregados, sem ceder a eles qualquer tipo de participação. O mesmo fenômeno se vê através de registros de patentes e propriedades intelectuais. Todos esses processos, por sua vez, resultam na flexibilização dos direitos trabalhistas, que faz com que práticas como terceirização, subcontratação, contratação temporária e sindicalismo de empresa12 tornem-se comuns. No design, isso se reflete no crescimento de sindicatos empresariais e da pejotização – contratação de pessoas jurídicas (PJ) também conhecidas como freelancers. Desse modo, a chamada empresa enxuta ganha força: a parte variável do capital – ou seja, os salários – é reduzida em detrimento do capital constante, que é gasto com meios de produção, como maquinário, insumos, instalações e ferramentas. Em geral, são empresas com alto índice de automação e tecnologia que buscam diminuir cada vez mais seus gastos com trabalhadores, o que se reflete, por exemplo, nas recorrentes demissões em massa – gentilmente chamadas de layoffs – que frequentemente afetam designers.
Por tudo isso, acredito que os processos descritos por Matias – a chamada “virada gestorial” no design – e por Contino – a transição do paradigma do “produto” para o “processo” no design – não são fenômenos meramente ideológicos. Pelo contrário, são resultados das transformações que ocorreram em toda a sociedade e, consequentemente, também no campo do design. Não é por acaso que o crescimento da literatura gestorial e de caráter neoliberal no design coincide mais ou menos com a ascensão de governos neoliberais em todo o mundo em meados das décadas de 1970 e 1980.
O jogo fantasioso do “tudo é possível, basta que você projete!”; a ênfase na empresa como solucionadora de problemas sociais; a ilusão do designer como parte essencial da gestão capitalista; tudo isso tem sua razão de ser na nova produção flexível. Para se apropriar integralmente do componente cognitivo do trabalhador, a empresa deve fazê-lo sentir-se parte dela, vender a ideia de que ele é um “colaborador”, “quase da família” e enfim seduzi-lo a “vestir a camisa do time”. Mais que tentadora, essa manobra ideológica é necessária para que ele venda tudo de si, até mesmo aquelas capacidades que a princípio não estavam no contrato, mas que acabam por se transformar em horas extras e abnegação. A empresa então aparece, pela primeira vez, como um polo aglutinador da ideologia dominante, e a exploração vira um valor a ser autoimposto pelo trabalhador.
Löbach, em sua famosa obra Design industrial: bases para a configuração dos produtos industriais (Blucher, 2001), argumenta indevidamente que a teoria crítica considera o design uma espécie de “droga milagrosa”, cuja única serventia seria tornar tudo vendável. Acontece que no capitalismo todo produto é também uma mercadoria. Desse modo, Löbach e parte da teoria do design, ao ignorar as determinações mais estruturais que agem sobre os produtos-mercadorias, em lugar de verem o design como uma droga milagrosa, veem o milagre do design.
Ao mesmo tempo, o design é vendido como uma “droga milagrosa”13 e seu “modo de pensar” é diluído como elemento organizador de toda produção. Efeito também da aplicação do lean e do design thinking, que nada mais são que resultados do toyotismo e seus princípios flexíveis de horizontalização, especialização e distribuição dos núcleos decisores e gestores.
Por isso, sustento que o paradigma do processo no design, embora se encontre embebido de ideologia neoliberal, não é senão reflexo de mudanças efetivas no próprio design. É preciso se livrar da ebriedade para se alcançar a sobriedade, o que não significa que o que um indivíduo faz quando está ébrio seja apagado quando está sóbrio. De semelhante maneira, por mais que sejam vendidas doces ilusões, mentiras e doses homeopáticas de liberalismo em todo design thinking, método lean e demais psicotrópicos que registramos por aí, é preciso compreender em que medida, por debaixo de todo efeito alucinado – e ideológico –, eles refletem processos reais que operam no design.
Se olharmos do ponto de vista do capital, o paradigma do processo no design se manifesta na expansão dos princípios e métodos do design para toda a produção, com especial destaque para a chamada “indústria criativa”. Por outro lado, do ponto de vista do trabalho, a aplicação do processo do design à produção apenas reafirma a polivalência do trabalhador, ou seja, sua capacidade multifuncional. Aliás, esta é outra característica da produção flexível: a necessidade, em determinados setores, de trabalhadores que possuam habilidades múltiplas e que desempenhem diversas funções simultaneamente em nome do bom funcionamento da produção.
Embora reine a automação nas terras da produção flexível, o trabalho humano ainda é necessário em certo grau, afinal, é ele que cria valor. Além disso, em muitos casos, as máquinas substituem apenas parte das capacidades da força de trabalho. É evidente que as tarefas restantes, se ainda forem necessárias, não deixarão de ser realizadas e, portanto, serão atribuídas aos trabalhadores que permanecem empregados. Com as recentes inovações em automação, como a inteligência artificial (IA), é possível que muitos designers sejam dispensados, mas aqueles que permanecerem assumirão algumas das funções que a IA ainda não consegue desempenhar, o que, em vez de diminuir, aumentará a intensidade de suas atividades. É que, no capitalismo, o aumento da produtividade proporcionado pelo avanço das forças produtivas, como a tecnologia, não é utilizado para aumentar o tempo livre do trabalhador, mas sim para demandar mais trabalho dele. Portanto, a chamada polivalência do trabalhador, que exige que ele desempenhe múltiplas funções, não é uma quebra na divisão do trabalho, mas um rearranjo dela no seio da produção capitalista.
Um bom exemplo da polivalência do trabalhador é a eliminação da categoria de cobradores (ou trocadores) de ônibus em muitas cidades do país, que obrigou os motoristas a manipular o dinheiro das passagens e informar destinos. Essa multifuncionalidade é uma necessidade da empresa enxuta. De modo semelhante, no campo do design, isso significa que designers precisam se tornar administradores, profissionais de marketing, desenvolvedores e assim por diante, sem que com isso deixem de ser designers. Para comprovar essa afirmação, basta observar os anúncios de emprego no setor.
Como contribuição a outros ofícios, a atividade projetual legou seu processo criativo. Se designers precisam ser publicitários, publicitários também haverão de ser designers, ao menos em alguma medida. Tanto quando as funções dos designers são desempenhadas por outros profissionais quanto quando seu processo de trabalho passa a integrar a atividade produtiva de modo geral, um grau de polivalência nunca antes visto é exigido. Talvez, por isso, vemos brotar, em todos os lugares, “designs” de todos os tipos – unhas, bolos, sobrancelhas –, não apenas como uma forma de diferenciação entre a infindável concorrência, mas também como um sintoma da fragmentação do próprio design. Aquilo que se fragmenta perde forma, e, com ela, definição. Hoje, tornou-se mais complexo do que nunca apreender as problemáticas de organização no design em consequência da impossibilidade de traçar os seus próprios limites. Nesse mesmo sentido, a dificuldade que os teóricos do design têm para definir a atividade projetual, mais do que das suas debilidades ou preocupações éticas, deriva das relações de produção postas em movimento pelo capital e que, por sua vez, afetam o design.
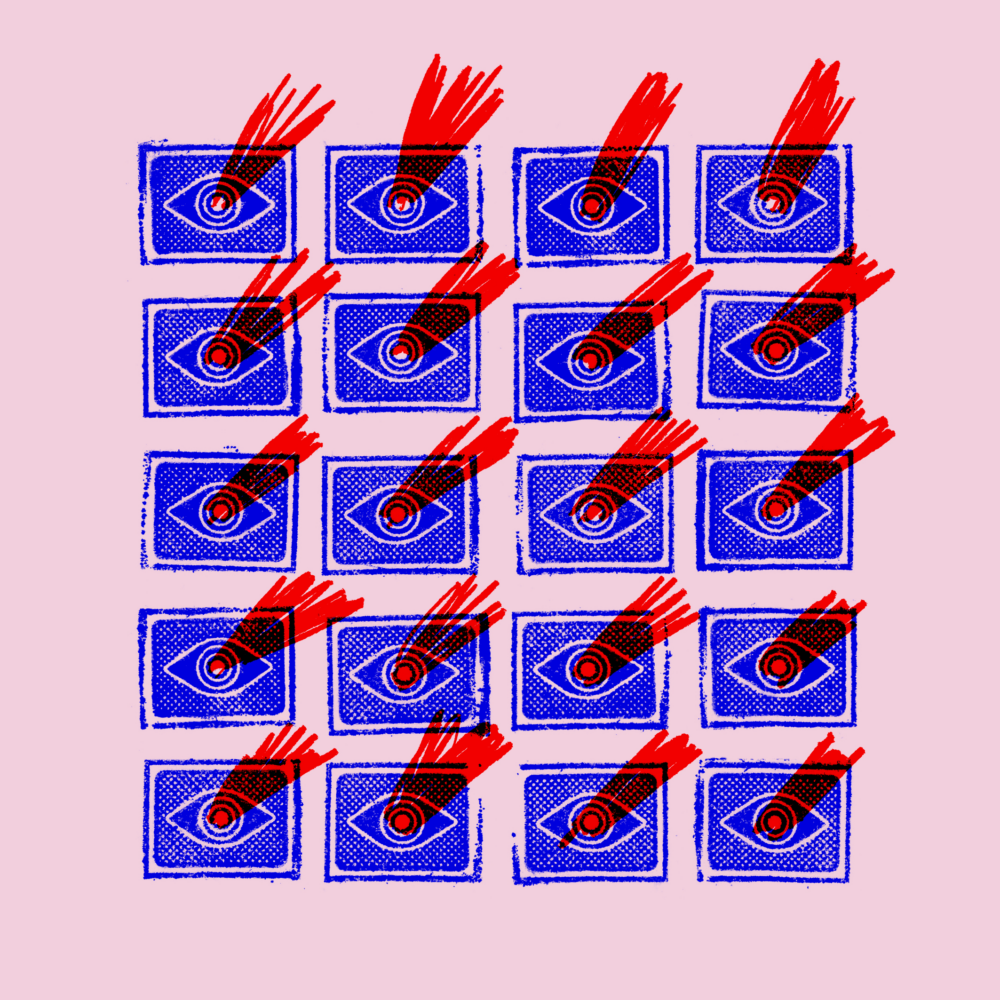
Por Laura Morgado.
Classe em si, classe para si e o design na encruzilhada liberal
Em alguns momentos, Marx tratou daquilo que chamou de “classe em si” e “classe para si”. A primeira refere-se a uma classe que é caracterizada apenas por sua posição no processo produtivo, sem compartilhar valores ou uma consciência de classe em comum. Já a segunda diz respeito a uma classe que compreende seus interesses históricos e os defende ativamente, que se volta “para si”. Os indivíduos que a compõem não estão unidos apenas pelos aspectos do trabalho diário, mas também por uma consciência política desperta e por demandas políticas. A burguesia, por exemplo, é essencialmente uma classe “para si”, pois compreende seus interesses históricos e age de acordo com eles, ao contrário do proletariado, cuja elevação do nível de consciência de classe depende de condições econômicas, políticas e sociais específicas, da ação política organizada etc.
Existem categorias de trabalhadores que, por diferentes motivos, têm maior propensão a desenvolver consciência de classe do que outras. Vários fatores influenciam nesse processo, como as condições de vida da categoria, os salários, o histórico de organização, as condições de trabalho, entre outros. Por exemplo, na década de 1970, os metalúrgicos encamparam a vanguarda de uma série de greves em todo o Brasil. Essa é uma cultura bem estabelecida entre esses operários. Mais recentemente, podemos pensar nos enfermeiros, já citados neste ensaio. Mas e os designers? Bem, os limites da organização dos designers são os limites do próprio design. Devido à fragmentação resultante da reestruturação produtiva após 1970, considero que os designers mal constituem uma categoria de trabalhadores “em si”, quanto mais “para si”.
Um fenômeno cada vez mais relevante e que dificulta a organização dos designers é a espacialização do trabalho. O trabalho remoto, apesar de trazer benefícios, cria obstáculos para que as relações entre os trabalhadores floresçam com mais espontaneidade. O que, por sua vez, prejudica a união em torno de reivindicações comuns e reduz as possibilidades de agitação política. Não há sequer meios de produção diretos a serem paralisados. O que um designer que trabalha remotamente pode fazer? Sabotar arquivos do Figma? Embora isso possa ser considerado uma forma de ação, está longe de ter os efeitos práticos e os ganhos políticos de uma greve ou de um piquete tradicional. Esse impasse evidencia como a organização dos designers como categoria exige inventividade e circuitos de ação política que vão além dos métodos tradicionais.
Nesse mesmo sentido, a divisão do trabalho em pequenos núcleos decisórios mina a capacidade de fazer pesar a correlação de forças em favor da categoria. Uma reivindicação levada a cabo por quatro ou cinco designers não tem a mesma força que outra carregada por 100 ou 200. A fragmentação do trabalho significa a fragmentação da própria capacidade de organização do trabalho diante do capital. Marx e Engels sempre alertavam para o fato de que a simples reunião de grandes contingentes de trabalhadores em um único espaço constituiu uma revolução sem precedentes nos processos de trabalho. Dessa forma, a retirada do trabalhador de seus espaços coletivos pode significar a perda da própria coletividade, que é essencial para a defesa de seus interesses diante dos ataques do capital.
Estou ciente dos benefícios das novas formas de trabalho, como o trabalho remoto, que, aliás, já está sendo revisto no mundo todo, até mesmo por empresas como a Zoom, ironicamente. No entanto, é importante considerar que elas permitem aos designers que trabalhem no conforto do lar, se tornem “nômades digitais”, mas também estrangulam outros com jornadas de trabalho incessantes. A mesma produção flexível que afeta o “home office”, afeta também o trabalhador precarizado da Uber. O perigo, nesse caso, mora na compreensão unilateral do fenômeno.
O fim do trabalhador coletivo é o apogeu do indivíduo. A sugestão de saídas individuais para questões sociais não serve aos designers. A apoteose do “mérito” individual, do mercado que se “autorregula” e da empresa como solucionadora de problemas sociais funcionam apenas como mecanismos de desarticulação da ação política coletiva e consciente. Afinal, os problemas da fome ou do desemprego não se resolvem com aplicativos.
O fuzil de Haug: um problema de determinação
Termo utilizado por Rafael Cardoso em Design para um mundo complexo (Ubu, 2022), onde acertadamente afirma que “não é responsabilidade dos designers salvar o mundo, como clamavam as vozes proféticas dos anos 1960 e 1970, até porque a crescente complexidade dos problemas demanda soluções coletivas”.
Os ideários do designer como gênio individual e do projeto-todo-poderoso são falsos remédios para doenças verdadeiras. Acontece, no entanto, que estamos tomando doses cavalares dessas drogas. E por quê? Porque é mais fácil acreditar que os problemas do “mundo complexo”14 podem ser resolvidos com decisões individuais de designers bem intencionados do que lidar com a fragilidade do design diante das misérias postas em movimento pelo moinho de moer gente que é o capital.
Daí surge o outro lado do problema: a escolha dos designers pela reforma em vez da revolução – a opção pelo ativismo em vez da militância, por trabalhos dispersos e descontínuos em detrimento do compromisso com um projeto político de poder e assim por diante. Normalmente, quando os designers buscam realizar um “trabalho social”, eles procuram alterar as formas que configuram as mercadorias, ou seja, os métodos, materiais e processos utilizados. A ação política, portanto, ocorre dentro dos marcos da produção capitalista, sem haver um sentido de ruptura.
Ainda que em certos casos os designers se inclinem em favor do reformismo ou do liberalismo conscientemente, existem situações em que essa predileção indica um cenário em que a ação política não é orientada por ideias bem definidas e objetivos sólidos e duradouros. Nesses casos, os designers apenas adotam o conjunto de ideias mais difundido, em conformidade com as ideologias das classes dominantes. Como resultado, tem-se uma ação política instável e descontínua. Vejamos essa questão mais de perto com base nas contribuições da crítica estética da mercadoria.
Ou seja, para a realização de seu valor de troca. Haug faz um debate a partir da teoria do valor-trabalho exposta por Marx em O capital.
W. F. Haug, embora seja um autor pouco traduzido no Brasil, possui um livro pioneiro na crítica do design intitulado Crítica da estética da mercadoria (Editora Unesp, 2001). Nele, o autor apresenta o conceito que dá nome à obra, ao afirmar que o capitalismo torna a estética um meio para a venda da mercadoria15. Haug argumenta que designers, publicitários e marqueteiros têm a função de seduzir os clientes e estão diretamente envolvidos com a estética da mercadoria. Em sua exposição, ele reflete a respeito de temas como valor de uso, valor de troca, produção capitalista e socialista, usando exemplos que ajudam a dar força aos seus argumentos. Embora a obra de Haug apresente uma argumentação bastante criativa – e por vezes obscura –, não são esses aspectos que desejo destacar.
A certa altura, o autor aborda a questão da persistência da estética da mercadoria no socialismo e argumenta que criticá-la não é o mesmo que repudiar o embelezamento das coisas e as técnicas empregadas em sua produção. Para ele, confundir a crítica da estética da mercadoria com o embelezamento dos produtos seria “uma atitude semelhante ao pacifismo em sua branda inconsequência, recusando por princípio a violência, sem se importar se ela é opressiva ou libertadora”. A partir dessa analogia, o autor desenvolve uma metáfora que considero de grande relevância para o nosso debate e, por essa razão, reproduzo a seguir o trecho na íntegra.
É diferente se um fuzil é usado como meio em uma guerra imperialista ou se é usado em uma guerra de libertação. Não se percebe isso no fuzil. A impressão sensível, passivel de ser copiada e multiplicada, não mostra o essencial aí oculto, servindo conseqüentemente para encobri-lo. […] A diferença, quer se trate de uma guerra de libertação, de um massacre imperialista ou de um latrocinio, não é visível no fuzil. Falar contra o imperialismo não significa falar contra os fuzis, mas munir o front de libertação com fuzis e fazê-los falar contra o imperialismo.
A alegoria do fuzil apresenta uma imagem bastante evocativa, mas é apenas um exemplo. Se considerarmos seu sentido mais amplo, essa passagem torna-se ainda mais provocante. Por exemplo, o que podemos depreender dela em relação à problemática da política e dos limites do design? Com frequência, quando os designers buscam se posicionar politicamente, tendem a acreditar que a politização de seu trabalho está centrada nos métodos de projeto, na utilização de abordagens mais democráticas e inclusivas, na adoção de uma linguagem ética, na utilização de materiais sustentáveis, entre outros. No entanto, essa inquietação restringe-se a escolhas de projeto puramente individuais. Essa posição é semelhante àquela do pacifismo descrito por Haug, que, diante das circunstâncias sociais de um conflito, não passa de uma postura desmobilizadora ou, na melhor das hipóteses, pouco eficaz.
Qual o modo mais “humanizado” de se projetar um fuzil, caro leitor? Um fuzil, se projetado de maneira “humanizada” pelo designer, continuará a disparar balas tão letais quanto aquele que resulta de uma produção convencional. Ora, embora os fuzis contenham as mesmas funções vitais a despeito do modo que foram projetados, são radicalmente diferentes aqueles que muniram o front argelino dos que municiaram o front francês na ocasião da Revolução Argelina, por exemplo. Para os argelinos, a arma serviu como forma de lutar pelo reconhecimento do estatuto de pessoas humanas, como meio de afirmar a soberania da nação e de negar o colonialismo. Já para os franceses, a serventia da arma encontrava-se na negação dos direitos humanos dos colonizados e na manutenção do jugo sobre a nação flagelada. Entendo que a princípio esta pode parecer uma conversa que nada tem a ver com design, no entanto, perceba um elemento fundamental do meu argumento: os objetos em questão eram os mesmos – fuzis –, e ainda que fossem empunhados nas mesmas circunstâncias históricas, os motivos políticos de seu uso diferiam radicalmente, e isso faz toda diferença.
Embora essa afirmação possa soar demasiada rude para alguns designers, trata-se de forma e conteúdo políticos, e não no sentido costumeiramente empregado no design. Além disso, o reconhecimento de ser o conteúdo o aspecto determinante da ação política não significa, de modo algum, diminuir a importância da forma. Trata-se apenas da ênfase no que constitui o “momento predominante” da ação política. Por fim, há de se ter em mente que se a forma carente de conteúdo é performática, o conteúdo pobre de forma é ineficaz.
Tomás Maldonado em El diseño industrial reconsiderado, publicado em Barcelona, 1977 (tradução minha).
Economismo é a tendência no movimento operário que restringe as lutas dos trabalhadores a uma dimensão econômica meramente reivindicativa e imediata: melhores salários, melhores condições de trabalho etc. A importância da teoria revolucionária, das reivindicações e organizações políticas são ignoradas. Por isso, chama-se de economismo o movimento que fica a reboque do espontaneísmo das massas no terreno econômico. O termo ganhou fama através de Lênin em sua obra Que fazer?.
Note, portanto, que o aspecto determinante dos objetos e da ação política muitas vezes não estão nas suas formas, mas sim em seus conteúdos16. Mas como essa afirmação nos oferece algum indício sobre o sentido que a ação política do designer deve assumir? Na maioria dos casos, a efetividade dessa ação política não implica necessariamente projetar de maneira diferente da habitual, mas sim atribuir um sentido radicalmente distinto às circunstâncias de produção e à circulação dos projetos. O segredo, nesse caso, não está no método em si, mas nos fins a que ele serve. É uma questão, sobretudo, de conteúdo político. Vale ressaltar, entretanto, que há diversos casos em que mudanças de método, de processos e de materiais resultam, por si mesmas, em alterações no sentido político de determinada produção.
Maldonado afirma que “geralmente, o designer, imerso na rotina de sua profissão, não consegue perceber o impacto efetivo de sua atividade na sociedade”17, mas ao imbuir seu trabalho de propósitos políticos, frequentemente o faz com base nessas mesmas intuições, restringindo-se a uma espécie de protoeconomismo18, e, por essa razão, não ultrapassa o imediatismo da produção na qual está inserido. O que significa, em outras palavras, que, ao superar a perspectiva liberal e todo o individualismo desmobilizador e apologético, o designer não avança para além do reformismo. Ora, se uma das funções do designer é otimizar processos e produtos, quando ele abraça a “preocupação social”, mas se abstém de confrontar os aspectos determinantes da produção – isto é, não assume uma oposição clara e definida aos aspectos estruturais do capitalismo –, ele simplesmente continua otimizando processos e produtos dentro da mesma lógica. Vejamos um breve exemplo.
Em 2020, o documentário O dilema das redes, lançado pela Netflix, ganhou fama ao expor como as redes sociais são projetadas para lucrar a partir dos dados de seus usuários. Logo nos primeiros minutos, somos apresentados a um “ex-designer ético” do Google – aparentemente, este é o nome do cargo que ele ocupava – que questiona por que a empresa não se preocupa em tornar o Gmail, um de seus inúmeros produtos, menos viciante. O filme apresenta diversos profissionais da área de tecnologia que, assim como ele, se arrepiam diante da sanha por lucro das empresas e como elas, na prática, ignoram questões éticas. No entanto, sempre que perguntados onde está a causa de tamanhos absurdos denunciados, ficam atônitos, sem saber explicar.
Se o diagnóstico é errado ou insuficiente, o remédio também será. Dos personagens que nos são apresentados, apenas uma delas tem a franqueza de afirmar que esse mercado, o das big techs, não deveria existir, pois assim como a escravidão, faz das pessoas, mercadorias. Os demais se detêm a argumentar que o problema não é o lucro, mas a falta de regulamentação, e, portanto, apostam na hipótese reformista.
Não é que a regulamentação das redes sociais não seja importante, mas este debate precisa estar conectado à totalidade social. Sem compreender questões relacionadas à classe, ao Estado e à exploração, a totalidade social desvanece e o que sobra como opção é justamente a costura, o remendo no tecido do real, e assim a política se reduz ao que é possível agora, neste instante. Assim, aquele mesmo ex-designer ético do Google, que conhecemos no início do documentário, decidiu, talvez movido pelos melhores impulsos éticos, fundar uma organização sem fins lucrativos chamada Center for Humane Technology. Entre os financiadores dessa organização, encontramos think tanks e fundações de longa tradição liberal, que têm contribuído historicamente para promover golpes de estado ao redor do mundo. Esse é somente um exemplo de como, quando a posição política abdica de uma perspectiva de classe, muito facilmente se enrosca entre o liberalismo e o reformismo.
Por isso, não é uma simples alteração na forma ou a adição de uma função que torna a ação de um produto contestatória. Alterações nos aspectos epidérmicos da produção capitalista, mesmo quando em acordo com as intenções dos designers, muitas vezes satisfazem apenas à necessidade de aprimoramento, diversificação de mercadorias ou maior atratividade para determinado nicho. Trata-se, assim, de uma diversidade na unidade do capital.
“Democracia burguesa” diz respeito a Estados em que a burguesia está no poder e faz uso despótico dele para garantir seus interesses de classe.
A própria política contestatória é suscetível de ser mercantilizada. Existem produtos “socialmente responsáveis”, palestras, cursos e ideias que podem ser comercializados com uma roupagem crítica. Aliás, a própria democracia burguesa19, em certo grau, exige isso para manter a política contestatória sob suas rédeas. É por isso que o mercado, em determinadas circunstâncias, demanda a liberdade criativa e crítica do designer, pois vende bem a determinado público. No entanto, tal proatividade nunca pode ultrapassar certo limite. A crítica é aceita e bem recebida desde que seja feita no sentido de reformar ou reforçar a ordem dominante, e não seja, portanto, radical a ponto de denunciar as raízes dos problemas. Em última instância, meu argumento é que a ação política que busca “humanizar” a produção capitalista não logrará sucesso se considerar os aspectos mais degradantes do capital como meras contingências, como erros a serem superados mediante reformas ou ações individuais.
As destinações dos produtos e os limites da ação política no design
Quando o domínio da burguesia se apresenta como coisa dada, natural, a história é submetida ao eterno desagravo do capital: propriedade privada, Estado e mercado parecem ser partes intrínsecas da humanidade, assim como a forma capitalista de projetar produtos, que nada mais são do que mercadorias.
Os produtos parecem sempre gozar de uma forma perfeita e acabada e só apresentam sua historicidade na medida em que saem do processo de produção, circulação ou consumo. Somente quando já não são mais mercadorias propriamente é que insinuam ser parte da história. O que determina, por exemplo, que uma rede social deve ter rolagem infinita? Por que o conteúdo exibido na linha do tempo deve ser personalizado para cada usuário por meio de algoritmos cujo único objetivo é mantê-lo mais tempo diante das telas? Por que os smartphones são da forma que são? E os carros? Nada disso está escrito em pedra, mas parece estar. No fim das contas, são escolhas projetuais que obedecem aos ditames não só da utilidade (valor de uso), mas também, e sobretudo, da estética da mercadoria (valor de troca). As destinações dos produtos só parecem imutáveis apenas porque o modo de produção capitalista se apresenta dessa forma. Em última instância, as formas do projeto correspondem às formas de produção.
É estranho um design que pretende ter aspectos políticos de contestação, mas que apenas reproduz algum dos objetivos do capital: produção de mais-valia, lucro ou consenso ideológico. Do ponto de vista teórico, a dificuldade dos designers de irem além do reformismo pode ser explicada, talvez, pelo fato de que a área é frequentemente compreendida apenas a partir de práticas institucionais e empresariais, de grandes escolas e grandes designers e de métodos ditos revolucionários. Basear a análise nesses aspectos, implica, em muitos casos, ignorar as manifestações concretas e cotidianas do design, que residem nas tímidas e muitas vezes ocultas relações de produção. Tudo isso dificulta a compreensão das potencialidades políticas do design.
Ora, como vimos com Haug, o anti-imperialismo não se encontra na impressão sensível do fuzil. Da mesma forma, o aspecto determinante – em termos de política de classe – não reside necessariamente nos produtos em si, mas sim em suas destinações políticas. Isso, naturalmente, não significa que o modo de projetar não tenha importância; entender as coisas dessa maneira seria concebê-las de forma unilateral.
Se assumimos a centralidade do conteúdo de classe na ação política consciente, em algum momento teremos que travar discussões no campo a respeito do conteúdo político do que se compreende como um design ativista, atado muitas vezes ao referido reformismo, e práticas inconstantes, por um lado, e o design militante, que exige projeto político, constância e disciplina, por outro.
O aspecto determinante não está na forma de conceber o fuzil, mas sim nas circunstâncias em que seu uso político ocorre. O mesmo princípio se aplica a panfletos, jornais, posts em redes sociais, vestuário e tudo mais que se possa imaginar. Todos esses são produtos do cotidiano, que podem muito bem estar inseridos em uma produção de design político e contestatório. O que vai determinar sua validade, nesses termos, é puramente o seu conteúdo de classe20. Afinal, se reconhecemos a insuficiência de escolhas éticas individuais de consumo como economizar água, usar transporte público, comprar de empresas sustentáveis etc., por que haveríamos de acreditar na eficácia de escolhas individuais de design para solucionar problemas sociais? Fazer o revolucionário, nesse caso, é fazer o básico: não necessariamente projetar novos produtos com extraordinários e entusiasmantes métodos e materiais, mas sim responder às demandas políticas de classe mais prementes.
É no panfleto, no vídeo, no jornal, na denúncia e na criação cotidiana em que se encontra o design que partilha de uma perspectiva de classe. Não me entenda mal, com isso não estou querendo defender que os designers não busquem inovar em sua produção, implementar novos métodos, escolher diferentes materiais, criar novos produtos ou repensar sua relação com os usuários. Tampouco que esses são aspectos irrelevantes na ação política do designer. Apenas destaco que tudo isso deve estar submetido a um projeto político consciente, do contrário, ao agir de modo espontâneo e irrefletido, abre-se caminho para o reformismo ou para uma perspectiva liberal da política e do próprio design.
Não se trata de falar contra a estética, mas de pô-la a nosso serviço. A adesão do designer à hipótese revolucionária requer uma ética projetual e uma atenção especial à forma política que ele ajuda a expressar. Ética, política e projeto, nesse caso, passam a fazer parte de uma tríade. Por isso, a busca por metodologias alternativas e coletivas, o questionamento sobre os melhores materiais a serem utilizados, assim como a preocupação com a maneira pela qual o produto se apresenta ao usuário e como este se relaciona com aquele, tornam-se quase naturais. Essa perspectiva revolucionária exige, desse modo, um novo compromisso com o caráter pedagógico e com a inventividade – ou inovação, se preferir – da atividade projetual.
Apesar disso, é importante não ter a ilusão de que há uma solução projetual para problemas estruturais como o acesso à moradia, alimentação, transporte público e emprego. A solução é política, prática e concreta, e, portanto, vai além do âmbito do projeto, embora o abarque. Os designers devem aprender a reconhecer os limites do design – esse é o primeiro passo. Aqueles que se inclinam para a prática de um design não hegemônico, crítico ou revolucionário devem compreendê-lo como um instrumento relacional cuja eficácia política está associada a uma ação política concreta e de classe. O dever dos designers revolucionários não é fazer a revolução no design, mas o design da revolução.
Os textos que integram a coluna Design Radical são co-editados por Rafael Bessa e são complementares ao artigo homônimo publicado na Recorte em maio de 2021. Os autores convidados por ele exploram as diferentes formas em que o design se relaciona com as condições de produção, as outras áreas do conhecimento e a conjuntura política de seu contexto histórico.