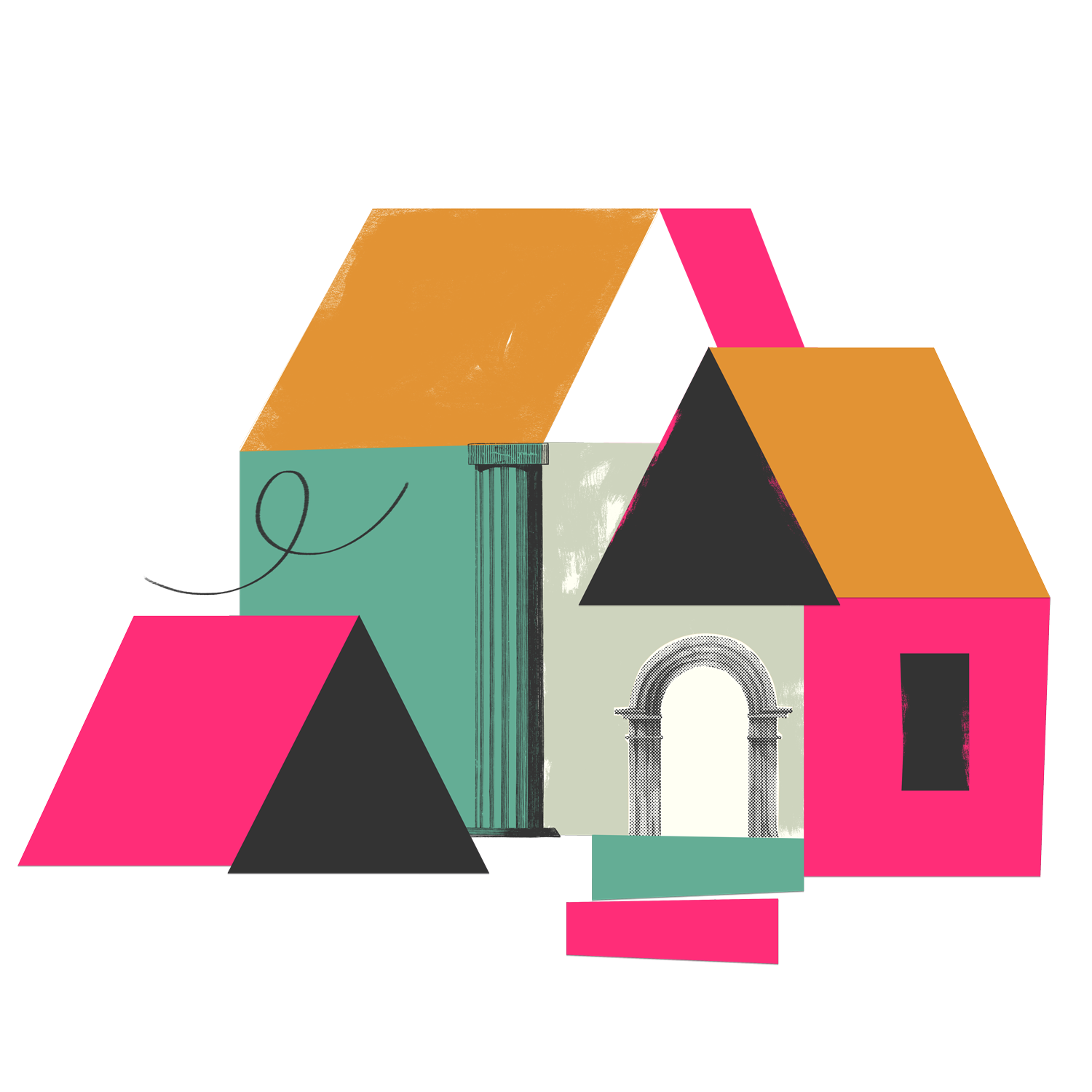Você já reparou nos bancos do Parque da Água Branca? Estou sentado em um deles enquanto começo a rascunhar este texto sobre a obra prima de Paul Rand, usando duas máscaras no rosto e fingindo que não há uma pandemia do lado de fora (de fora de onde?, me pergunto). Aos meus pés, dois galos ciscam em busca de alguma sustância para a tarde e disputam a atenção de uma galinha com cara de assustada — um deles, já com a crista deformada por brigas anteriores, insiste no cortejo mesmo depois de tomar um chega pra lá do colega, de crista inteira e altivo, claramente o garanhão do pedaço. Não à toa, a fêmea continua voltando pra perto do ganhador, apesar de também ganhar a sua porção de bicadas, num cortejo absurdo.
Para quem me lê e não é de São Paulo, um contexto: este parque é um encrave de natureza e aves soltas no meio da Zona Oeste da cidade. Começou a ser pensado no início do século passado, a pedido do setor pecuário, e mantém até hoje um grande curral, estábulos e estruturas para exposição de animais. Apesar de inaugurado pouco antes da década de 1930, ganhou a extensão atual em 1942 (cinco anos antes, aliás, de Rand publicar a primeira edição de Pensamentos sobre design). A arquitetura tem influências do estilo Normando, com cara de casa de fazenda rica, mas também umas pitadas de Art Deco (afinal, era o must da época, e os ruralistas de então ainda não eram representantes da “crise estética” que vivemos hoje).
Pincelados pelo parque, os tais bancos entram na onda do mobiliário urbano à decô. São de granilite, com curvas simples e eficientes, apoiados em pés com adornos feito garras (falta-me o vocabulário técnico, perdão) pintados de amarelo, confortáveis o suficiente para o passante ler um livro ou observar galinhas. Andei recorrendo a estes bancos com alguma frequência para um alívio mental na quarentena e tenho olhado-os com certa fascinação, pensando inclusive em produzir uma publicação sobre eles. Mas digressiono.
O mais curioso em relação a esses móveis é que todos eles são pequenos… outdoors fora de época. Sabe aquelas estátuas de igrejas financiadas por famílias abastadas, que têm o seu ego agraciado com uma placa de agradecimento? O movimento é o mesmo. Como o parque foi financiado por lobby pecuário, parece-me que cada banco foi pago e doado por membros ligados a esse grupo, que ganharam a chance de expor suas marcas ali mesmo.
Então, cada espaldar tem pintado, até hoje, anúncios defuntos de iniciativas ligadas ao assunto. Da Fazenda Cajuru, de Sorocaba, e seus porcos pintados com tinta vermelha, até fornecedores de polias e casas têxteis especializadas em tapeçaria (afinal, penso, se você tem uma sede de fazenda como um bom rei do gado, vai gastar uma fortuna com tapetes). É um documentário vivo de uma época e seus telefones de seis dígitos e endereços desatualizados.
Pensamentos sobre design é também um livro de época. Não por isso datado, mas claramente representante de uma fase em que os SEGREDOS DA COMUNICAÇÃO, essa caixa de Pandora que o mercado sempre tentou manter fechada para poucos, eram pretensamente conhecidos e chancelados apenas pelos homens brancos da Madison Avenue e seus copos de uísque (alô, Don Draper). Seu autor Paul Rand, apesar de fugir um pouco desse clichê, como um geniozinho fora da curva e de construção autodidata com seu trabalho modernista sorvido de fontes europeias, era também um deles — quando publicou a primeira edição desse livro, já tinha sido alçado ao panteão dos diretores de arte das grandes corporações antes mesmo de completar 30 anos.
Mas, problemáticas classistas à parte, o que faz seus Pensamentos ainda valerem como um pequeno manual filosófico para designers e interessados no assunto — e não como um how to anacrônico para 2020?
Rand não era lá um grande escritor, mas já tinha então acumulado cultura geral mais que suficiente para fazer pontuar sua linha de pensamento. Assim como o seu trabalho de logotipia é incensado até hoje pela economia de elementos e potência de comunicabilidade (como na marca da IBM, do conglomerado televisivo ABC, que seria copiado por Silvio Santos, ou, minha favorita, a clássica da Westinghouse Electric Corporation), suas reflexões no livro são desmontadas até atingir o bojo central do assunto.
É a vantagem de ser autodidata, arriscaria dizer, pois ele escreve sem os vícios enquadrantes da academia. Afinal de contas, é um livro sobre design que começa com uma poesia — na qual ele pontua que “design não é bom se for irrelevante”. Se o livro acabasse ali, já seria eficiente o bastante. Como um enunciado de Platão (que Rand também cita nas suas páginas, um pouco pedante um pouco espertinho), é um daqueles aforismos absolutamente óbvios, mas que alguém precisava dizer — e que o mercado, os contratantes, os publicitários, os próprios designers no afã de produzir a toque de caixa, esquecem frequentemente.
O trabalho de Rand, claro, é o grande exemplo de todas as suas análises. Afinal, é um livro com seus pensamentos e ele nem precisaria incluir outros criativos para dar conta do (seu) recado. Das suas diversões com tipografia até marcas registradas de elementos geométricos, influências da Bauhaus, narrativas eficientes e repetições na diagramação, o designer está olhando para você sob a armação dos óculos e dizendo naturalmente “veja como o meu trabalho é relevante, meu bem”. Algo que, convenhamos, poderia ser um bocado irritante.
Mas, ao contrário do que faria Washington Olivetto, o americano não cai na armadilha de fazer o livro ser sobre si. Pelo contrário, ele parte da realização do seu trabalho para instigar o pensamento de quem o lê a entender qual é a problemática primordial do design na sua criação. O leitor nem precisa necessariamente gostar da estética criada pelo autor para entender que “fazer picadinho do processo criativo”, como ele propõe, é algo danoso para o mercado inteiro em longo prazo.
O que traz o meu pensamento para hoje em dia, quando a caixa de Pandora que citei ali em cima já está mais que escancarada e todo mundo é um comunicador em potencial e um designer diletante. Ainda assim, com todas as ferramentas abertas, todos os processos à mão, literalmente todas as possibilidades do mundo à disposição… o que mais se vê são designs massificados, repetições derivativas, muita gente esforçada em apenas reproduzir template do que é pretensamente legal em vez de tentar partir da blank page.
Lembra-se da narrativa dos galos que fiz lá em cima? Há algum tempo, os designers esforçados eram aquele macho com a crista desgraçada, e a galinha era o mercado — esta sempre voltando para as asas da criação padrão do galo garanhão, mesmo depois de tomar porrada, enquanto o pobre do garnisé esforçava-se por uma peninha de atenção.
Hoje, penso eu, os papéis estão invertidos. Com um campo imenso aberto à sua frente, muitos designers encarnaram na galinha franzina e medrosa sempre em busca de alguma estética já estabelecida, representada pelo galo cheio de si. Enquanto isso, as possibilidades de um mundo muito mais interessante estão ali, ciscando, tentando incessantemente chamar atenção dos criativos — todo machucado, mas nunca desistente.
Falta Paul Rand no galinheiro.
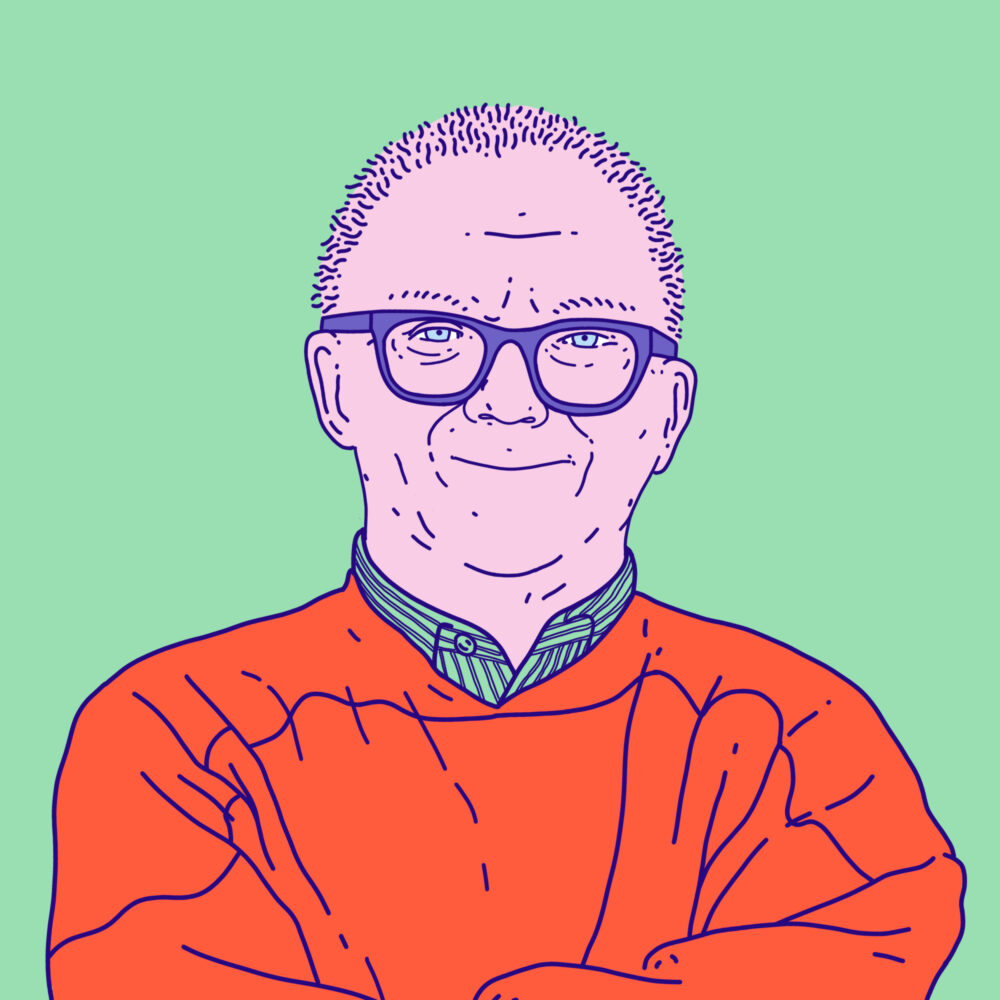
Retrato de Paul Rand por Maria Júlia Rêgo para o Clube do livro
Este texto foi publicado originalmente como leitura complementar do mês de outubro de 2020 do Clube do Livro do Design. O Clube, realizado por Tereza Bettinardi, promove debates mensais a partir da literatura do Design.