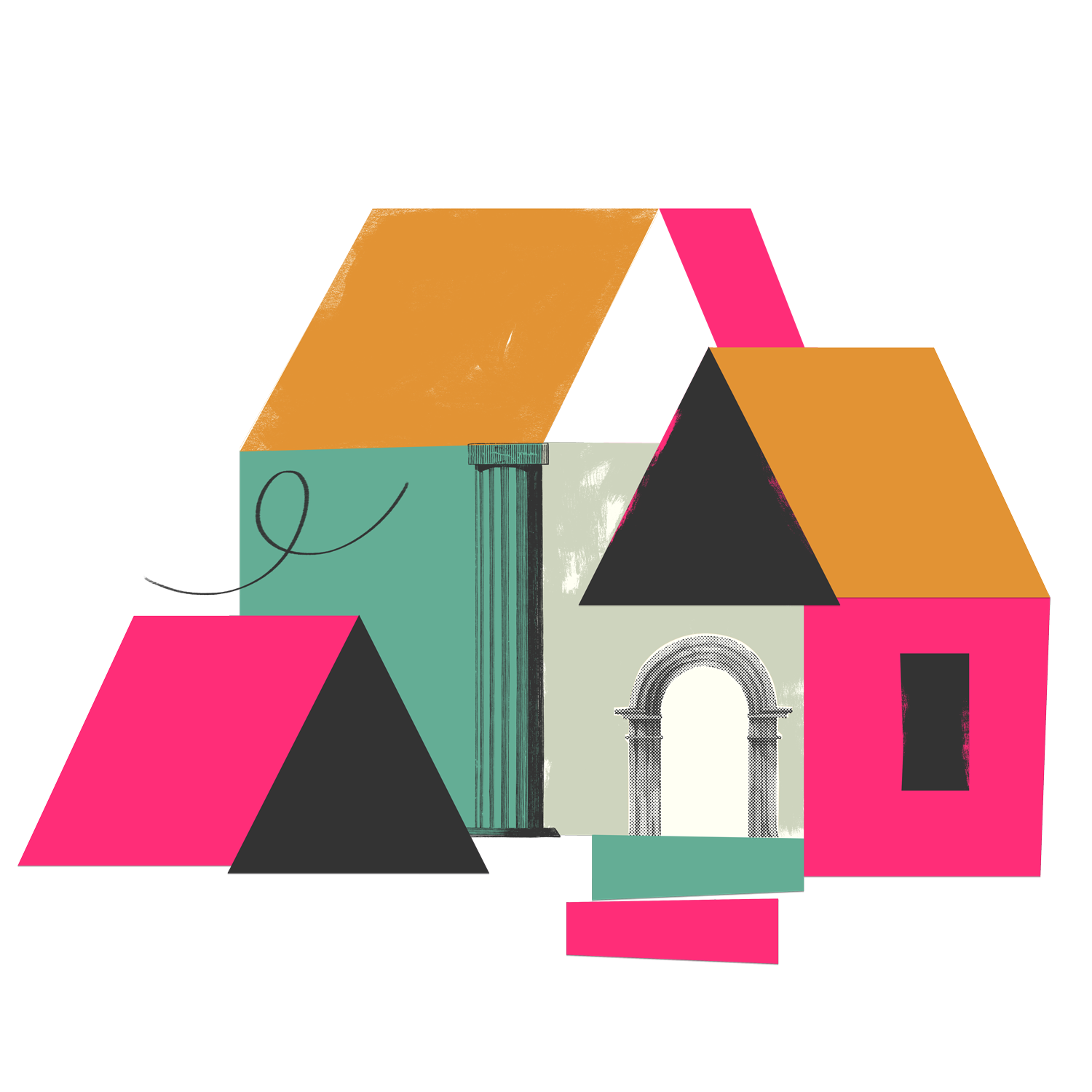A obra em acrílica e lápis de cor sobre tela foi cedida pelo artista pernambucano Lu Ferreira (@lu___ferreira no Instagram) para ilustrar este ensaio.
É raro compartilhar meus medos assim, mas vamos lá: meu maior terror é ser professor. (Eu sou professor.) Não me entendam mal; eu adoro o ofício e, apesar dos poucos anos em sala de aula, já tive momentos memoráveis. Mas, para o sistema educacional, minha função é simplesmente apertar parafusos nessa linha de montagem hiperfragmentada e descentralizada da produção de capital humano. Meu terror surge exatamente daí: imaginar que estou preparando os estudantes com quem compartilho o espaço da sala de aula para passar por coisas parecidas com as que passei na prática profissional enquanto designer.
Sinceramente, não sei o quanto minha trajetória é comum. Depois de terminar a graduação e abandonar um trabalho em agência de publicidade, fui empregado de uma editora tradicional de Pernambuco. Como era de se esperar, a repetição cotidiana me enfadou rapidamente e, num Brasil distante (que ainda oferecia alguma esperança para o trabalho acadêmico), abandonei aquele emprego para poder receber uma bolsa de pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) de R$ 1.500 por mês. O valor desse auxílio foi reajustado pela última vez em 2013, quando já era um pouco ridículo e, agora, com sucessivos e exorbitantes cortes de orçamento, há cada vez menos perspectiva de mudar. Se eu não tivesse uma rede de proteção, a bolsa não me garantiria (a mínima) tranquilidade para conduzir uma pesquisa científica. Mas, hoje, com o país altamente pauperizado e sem segurança alimentar e com a queda do poder de compra… daria menos tranquilidade ainda.
Nessa curta janela de tempo entre 2014 e 2016, quando finalizei meu mestrado, houve uma queda livre da condição de trabalho em design gráfico em Pernambuco. Eu gostaria muito de conseguir trazer dados para demonstrar isso; duvido que eles existam, mas poderia começar pela quantidade de colegas que vi migrar para o Sudeste em busca de trabalho criativo. Fora isso, tudo o que tenho é a lembrança do esforço de manter uma atividade constante nas redes sociais, enquanto precisava “justificar” a bolsa que recebia pesquisando, publicando artigos, apresentando trabalhos em congressos – porque recebê-la já era, como os jovens dizem, um ~privilégio~ (Quem me segue no Twitter já sabe que til é aspa irônica). Como um bom sujeito neoliberal, para mim, essa pressão para justificar o recebimento da bolsa não vinha de nenhum lugar específico, mas de todos os lugares.
O termo é citado por Silvio Lorusso, no seu Entreprecariat: Everyone is an entrepreneur. Nobody is safe, de 2019.
Quando terminei o mestrado, o cenário era desolador. Não havia mais emprego em design; o máximo era a incerteza absoluta de ser freela, coisa que eu já vinha experimentando, porque, enquanto designer, você não se pode dar ao ~luxo~ de trabalhar em uma coisa só. Parece que nós designers somos os nativos da precarização1: no nosso estilo de vida, é normal trabalhar em tudo, a qualquer hora, em todo lugar. Essa ansiedade financeira não me fez muito bem, então me tornei concurseiro ao longo de 2017: houve um edital enorme para o judiciário que prometia ser o bote salva-vidas para o Titanic que se tornou o Estado brasileiro com o golpista Temer no poder. Para mim, ali, não havia alternativa. Tudo o que restou foi o desespero e a angústia de buscar alguma segurança para que eu pudesse, no tempo livre, dispor do trabalho criativo.
A sensação de que não há alternativa deve ser familiar para todo mundo, a essa altura; mesmo que você tenha optado (na falta de opção) pela vida de freela ou sido capaz de se estabelecer como um pequeno estúdio (se seu estúdio fosse um filme, tenho certeza que seu nome apareceria repetitivamente em diversas funções na rolagem de créditos). Curiosamente, a proposição de que “não há alternativa” foi literalmente enunciada por Margaret Thatcher, a primeira-ministra do Reino Unido entre 1979 e 1990, e se tornou o mantra do neoliberalismo – ela própria foi um vetor fundamental da ascensão global dessa ideologia (que se proclama pós-ideológica), junto com Ronald Reagan nos Estados Unidos.
Esse mantra vem justificando, desde os anos 1980, o desmonte de tudo o que era concebido como o estado de bem-estar social: quando a sociedade concorda que certos direitos deveriam ser garantidos para todos e o Estado trabalha para isso. Educação, saúde, aposentadoria, seguridade social, essas coisas tão básicas. No entanto, Thatcher foi capaz de emplacar globalmente ideias estúpidas como a de que “não existe dinheiro público, existe apenas dinheiro de quem paga impostos” e que “não existe a sociedade, existem apenas pessoas”. Desde então, isso se tornou um pressuposto natural, como a gravidade ou a fotossíntese. Na verdade, essa sensação está tão infiltrada no nosso cotidiano que Mark Fisher a nomeou realismo capitalista.Em seu livro de mesmo nome, ela é descrita como “uma atmosfera penetrante, que condiciona não apenas a produção da cultura, mas também a regulação do trabalho e da educação – agindo como uma espécie de barreira invisível, limitando o pensamento e a ação”. E isso instaurou uma ontologia empresarial: hoje, “é simplesmente óbvio que tudo na sociedade incluindo saúde e educação, deve ser administrado como uma empresa”.
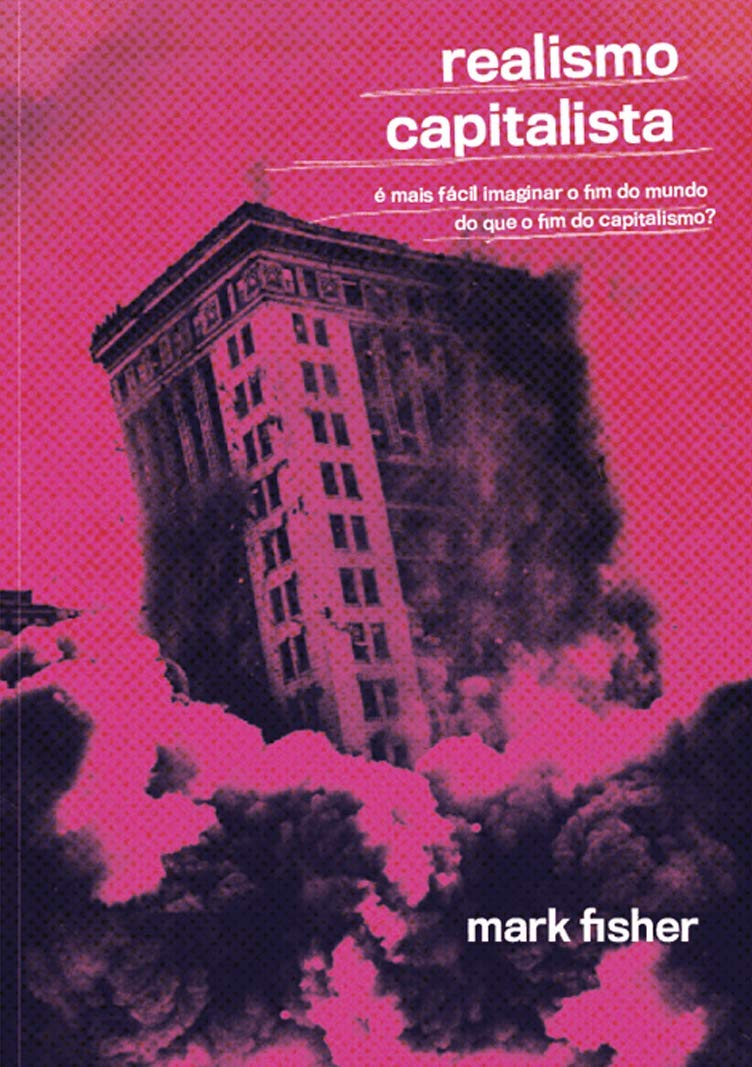
Realismo capitalista – É mais fácil imaginar o fim do mundo que o fim do capitalismo?, de Mark Fisher, foi publicado no Brasil em 2021 pela editora Autonomia Literária. A tradução é de Rodrigo Gonsalves, Jorge Adeodato e Maikel da Silveira.
Mark Fisher foi um crítico cultural – em seu sentido mais amplo – que tentou compreender o neoliberalismo, sobretudo em suas expressões culturais. Entre 2003 e 2015, seu blog, o k-punk (não, não é punk sul-coreano), era um modo de elaborar críticas culturais vinculadas a novas vertentes do marxismo que buscavam lidar com uma realidade em que o capitalismo não tinha mais nenhum adversário para lhe impor limites. Fisher escolheu atualizar o que até então era compreendido como pós-modernismo, porque, depois da queda do Muro de Berlim em 1989, ficou claro que tudo havia mudado. Agora, não fazia mais sentido opor essa fase ao modernismo, porque o modernismo havia fracassado – “o modernismo agora é algo que até pode ressurgir, periodicamente, mas apenas como um estilo estético cristalizado, mas não mais como um ideal de vida”. Agora, havia apenas a liberdade para consumir.
Para Fisher, a Greve dos Mineiros de 1984-1985 foi uma das fraturas principais que propiciou a ascensão do neoliberalismo no Reino Unido: na ocasião, Thatcher conseguiu desestruturar o principal sindicato do país, o que levou os demais a uma melancolia imobilizante – da qual a esquerda britânica talvez não tenha sido capaz de se recuperar até hoje. Se esse marco foi tão significativo no Reino Unido, ele nos serve muito bem para colocar em perspectiva o tamanho do buraco em que o Brasil está com as sucessivas contrarreformas (trabalhista, previdência, privatizações) e o teto de gastos. Se a sensação de que não há alternativa reina mais do que a Rainha Elizabeth, o que nos resta? Ainda enquanto designers num país de desemprego-foguete e subempregos cada vez mais precarizados?
A pergunta que subintitula o Realismo Capitalista – “é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo?” – é retórica. Fisher, você e eu sabemos que sim. Você também deve estar cansade de viver o fim do mundo: fazemos isso todos os dias já há alguns bons anos. (Nossos povos originários, há mais de quinhentos.) Entretanto, a decisão de remixar essa afirmação feita anteriormente por Fredric Jameson e Slavoj Žižek transformando-a em uma pergunta revela a ambição de Fisher de tentar provocar nossa capacidade de fabulação política. Uma das coisas que mais me impactou quando peguei o livro pela primeira vez foi o atrevimento de colocar questões capciosas à mesa; especialmente acerca das doenças mentais como problemas sociais e históricos, não individuais e neurológicos. A outra foi sempre estar ancorado em algum tipo de produção cultural – principalmente filmes e música – que permite que o texto vá da dimensão estrutural a formulações estranhamente íntimas com muita facilidade. Nesse sentido, o tratamento dele em Impotência reflexiva, imobilização e comunismo liberal sobre as novas formas de burocracia do neoliberalismo é muito incisivo.
Um dos aspectos que Fisher sublinha na sustentação desse realismo é a esterilidade cultural do momento histórico em que vivemos. Essa questão é discutida com mais especificidade por Jameson em seu Pós-modernismo: a lógica cultural do capitalismo tardio e pelo próprio Fisher em Fantasmas da minha vida: escritos sobre depressão, assombrologia e futuros perdidos, recém-lançado em português. Mas também é o ponto de partida desse livro, com a análise brilhante de Filhos da esperança (2006), um filme fascinante de Alfonso Cuarón. Para Fisher, essa obra inaugura um novo tipo de distopia – um que não tem nada muito diferente da nossa própria realidade. Lá, assim como aqui, “o ultra-autoritarismo e o capital não são de modo algum incompatíveis: campos de concentração e franquias de cafeterias famosas coexistem lado a lado”. E, assim, a pergunta substancial do filme se dá pela metáfora da esterilidade: “quanto tempo pode durar uma cultura sem o novo? O que acontece quando os jovens já não são mais capazes de produzir surpresas?”
Talvez isso possa soar estranho para você. Afinal, há coisas novas o tempo todo – somos bombardeados incessantemente por coisas novas em um ritmo cada vez mais acelerado. Talvez o problema seja que existam coisas novas demais. No entanto, essa novidade é falsa; o que se avoluma é o fluxo de informação, não a sua natureza. O realismo capitalista esteriliza a cultura e não produz o novo exatamente porque “resume e consome toda a história anterior. […] Na conversão de práticas e rituais em meros objetos estéticos, as crenças das culturas anteriores são objetivamente ironizadas, transformadas em artefatos”. Essa atitude com a história é exemplificada de maneira eminente em uma outra análise, dessa vez sobre a trilogia Bourne, que já mencionei aqui: o realismo capitalista “carece de memória narrativa, mas conserva aquilo que se pode chamar de memória formal: uma memória (de técnicas, práticas, ações) literalmente encarnada em um conjunto de tiques físicos e reflexos condicionados”.
Não compreender essa dimensão pode levar ao que Fisher aponta como imobilização: as respostas dadas no passado são emuladas com uma “nostalgia pelo contexto em que os velhos tipos de práxis podiam operar”. De fato, as respostas dadas no passado não dão mais conta do cenário que temos hoje – o que absolutamente não significa que não devamos olhar para elas. Devemos, mas não com nostalgia. Devemos olhar e compreender o passado – em suas formas filosóficas, teóricas, estéticas, políticas, pragmáticas – para constituir o repertório de experiências que nos informam como proceder melhor daqui em diante. E também para romper com essa atmosfera, demonstrando que isso que vivemos não é uma ordem natural. Assim, podemos demonstrar que “o que nos é apresentado como necessário e inevitável é, na verdade, mero acaso, e deve fazer com que o que antes parecia impossível seja agora visto como alcançável”. Ou seja, demonstrar que “o ostensivo ‘realismo’ do ‘capitalismo’ na verdade não tem nada de realista”.
Aqui entram os sistemas de controle. Com a computação e a ubiquidade das mídias digitais, esses sistemas buscam quantificar todos os aspectos da existência. No entanto, o choque da lógica quantificável com trabalhos não quantificáveis, como era de se esperar, gerou contradições. No caso da educação, por exemplo, “gerou novas camadas de burocracia e gerenciamento”. É o que ele chama de antiprodução burocrática e faz com que o trabalho mude de natureza: em vez de cumprir seus objetivos, o trabalho passa a ser mais sobre a manipulação de dados. O trabalho em si – no caso da educação, promover o ensino – pode nem estar sendo feito, desde que os números estejam bonitos. Assim, “começa a gerar, mais do que o trabalho em si, todo um sistema de criação e manipulação de representações”. Ou seja, aquilo que os neoliberais pintam como um “sistema eficiente” da “liberdade do mercado” é puramente ilusão.
Essa ilusão se sustenta, entre outras coisas, pelas “transformações incorpóreas” que ele atribui à propaganda, às relações públicas e ao branding. Aqui, podemos situar o campo do design diante do ousado diagnóstico geral do neoliberalismo. O capitalismo sobrevive graças às operações que convencem a todos nós a continuar colaborando com nossa própria exploração. E me parece crucial percebermos que a prática profissional do design é um dos modos historicamente utilizados para isso. Adrian Forty é uma das figuras que aponta isso com maior clareza. Em seu Objetos de desejo, ele analisa as maneiras como a prática de design mediou as demandas econômicas com as ideológicas respectivas à sua época, sempre em favor de quem detinha os meios de produção e o capital. Hoje, acredito que o design desempenha um papel fundamental na caracterização do realismo capitalista: “de um lado, uma cultura oficial na qual as empresas são apresentadas como ‘socialmente responsáveis’ […] por outro, a consciência amplamente difundida de que as empresas são corruptas, inescrupulosas, etc.”
Além disso, há questões ainda mais específicas para nós, designers deste momento histórico no Brasil. Um fenômeno tem me chamado muito a atenção e pode ser uma fábula cuja moral pode nos orientar: a glamourização da prática do design nas indústrias de tecnologia. Hoje, os estudantes e recém-formados olham para os lados e veem pessoas alugando bicicletas de bancos para fazer entregas a taxas abusivas. No entanto, são postos diante de uma miragem pintada pela indústria de tecnologia: o sucesso está garantido, caso trabalhem em alguma dessas startups ou corporações globais. E isso é forçosamente reiterado, tanto em sua dimensão material – com altos salários e benefícios – quanto simbólica – prestígio social, ambientes de trabalho descolados. Inclusive, no mundo neoliberal, a educação é a chave que vai abrir as portas do guarda-roupa para Nárnia.
É evidente que os estudantes buscam conforto financeiro, sobretudo porque associam, desde muito jovens, ascensão social a signos de consumo (o que, por si só, já é um sinal forte do realismo capitalista). Entretanto, é preciso desenhar as linhas que conectam as benesses das elites da indústria de tecnologia – designers, programadores, gerentes de projeto etc. – à superexploração de uma massa enorme de trabalhadores. Hoje, a fatia do design que foi abocanhada pela indústria de tecnologia se aproxima cada vez mais do abismo brutal que separa aqueles que são jogados aos tubarões da precarização e aqueles que ficam nos escritórios – pelo menos aparentemente seguros, já que também não há vínculos empregatícios significativos. A qualquer momento, você também pode ir em mais uma das demissões em massa. Desculpem, aliás, lay-offs, porque é mais chique.
Romper com o realismo capitalista significaria, entre outras coisas, pensar modelos alternativos de organização no trabalho. Por exemplo: a Lei n. 12.960/2012 regulamenta as cooperativas de trabalho como “a sociedade constituída por trabalhadores para o exercício de suas atividades laborativas ou profissionais com proveito comum, autonomia e autogestão para obterem melhor qualificação, renda, situação socioeconômica e condições gerais de trabalho”. Isso me parece um objetivo bastante razoável. E dá pra ser mais descolado: seria plenamente possível estabelecer um grupo de freelas de diferentes especialidades em que cada um tenha uma remuneração e o excedente seja reinvestido em bens comuns ou formação coletiva. É mais ou menos o modelo da famosa Pentagram – mas bem mais ou menos, porque lá apenas os sócios participam como iguais, enquanto os funcionários não detêm qualquer poder sobre os lucros ou decisões da empresa. Nesse caso, o cooperativismo foi assimilado pela ontologia empresarial.
Na prática, sei que não é fácil chegar a modelos alternativos de organização no trabalho em design no Brasil. Mas precisamos reconhecer que o modelo mais tradicional – o do estúdio – não é realmente bem-sucedido: ele sobrevive à custa da pejotização dos funcionários, do acúmulo de funções dos sócios/designers/administradores e das cadeias de terceirização promovidas pelas agências de publicidade. Pare e veja: fácil já não é. Além do mais, há pessoas sendo muito realistas na proposição de alternativas ao realismo capitalista. Por exemplo, o cooperativismo de plataforma parece ser uma ferramenta promissora para colocar os meios de produção digitais nas mãos da classe trabalhadora.
Precisamos explicitar o que significa “realismo”. Lembro de ter ficado muito impactado quando entendi que o movimento artístico do surrealismo acreditava estar representando a realidade real; surrealismo significa, literalmente, super-realidade. Irônico que hoje seja sinônimo daquilo que parece irreal. De maneira muito semelhante, o realismo do capitalismo é nada mais do que uma construção – e uma construção particularmente perniciosa para nós, porque se aproxima da “perspectiva deflacionária de um depressivo, que acredita que qualquer estado positivo, qualquer esperança, é uma perigosa ilusão”. Que o capitalismo seja suposto como a única alternativa que se origina no distanciamento irônico que colocamos entre nós e nossa própria realidade.
Por isso, mesmo sabendo que o capitalismo é uma fraude injusta, continuamos agindo em seus conformes. Esse é um mecanismo de defesa da psique, conhecido como denegação. Isso é muito fácil de constatar: quem já não riu de nervoso ao ler o post inspiracional de um chefe abusivo no LinkedIn? Hoje, partimos do pressuposto que todas performances em todas as relações mediadas por plataformas são expressões do mecanismo de denegação: reconhecer um problema e viver como se ele não existisse.
Para termos alguma possibilidade efetiva de mudança, é preciso “em primeiro lugar, aceitar, no nível do desejo, a nossa participação no impiedoso moedor de carne do capital. […] Precisa-se ter em mente que o capitalismo é tanto uma estrutura impessoal hiperabstrata quanto algo que não poderia existir sem a nossa colaboração”. Ou seja, precisamos reconhecer o fracasso do capitalismo ao mesmo tempo que compreendemos nossa participação nele. Como Fisher aponta, “a ‘epidemia de doença mental’ nas sociedades capitalistas deveria sugerir que, ao invés de ser o único sistema que funciona, o capitalismo é inerentemente disfuncional, e o custo para que ele pareça funcionar é demasiado alto”.
Aceitar a nossa participação nesse sistema, no nível do desejo, significa, entre outras coisas, uma reorganização de valores sociais. Ou seja, pensar um pouco além do tamanho e perfil do cliente – que vai denotar o seu sucesso individual lá no post e no seu portfólio – para discutir as condições de trabalho, remuneração, saúde mental, cadeias de aprovação etc. A perversidade do realismo capitalista é que o cliente que é o signo de sucesso quase sempre é também o mais inescrupuloso – exatamente graças às “transformações incorpóreas” nas quais estamos ativamente trabalhando. Estamos tão alienados que acreditamos nas mentiras que nós mesmos criamos.
Na experiência de ler Mark Fisher, o mais impactante, sem dúvida, foi aquele sentimento que só experimentamos quando temos contato com obras visceralmente verdadeiras: ele deu nome ao que eu sentia. O terror que mencionei. Dois anos depois de terminar o mestrado, comecei o processo de me tornar, também, professor (é uma história boa que vai ter que ficar pra próxima). Depois que terminei a minha primeira aula e a adrenalina baixou, surgiu aquele terror: imaginar que aquelas pessoas tão sagazes, talentosas e enérgicas passariam pelo moedor de carne do capital e, provavelmente, expressariam os sintomas de viver sob o neoliberalismo. Me restou, como dizia Graciliano Ramos, pregar alfinetes no realismo capitalista. Esperançoso, este texto é mais um.
Para qualquer um que queira ver, há esperança – no sentido freireano de ação imediata para transformação do futuro. Há politização e conscientização crítica crescentes, sobretudo entre os estudantes. Com isso, claro, vêm os riscos de assimilação dos desejos de mudança pelo próprio realismo capitalista – e o único antídoto para isso é continuar enfiando a mão na terra para chegar às raízes dos problemas. Ou seja, ser radical.
A tag “Clube do livro” é um desdobramento do projeto Clube do livro do design, idealizado por Tereza Bettinardi, que promove debates a partir da literatura do design.
Este texto também faz parte da coluna Chão de Fábrica, co-editada por Eduardo Souza. Integram a coluna histórias em primeira pessoa sobre trabalho, que possam inspirar a estruturar demandas e imaginar novas formas de organização.