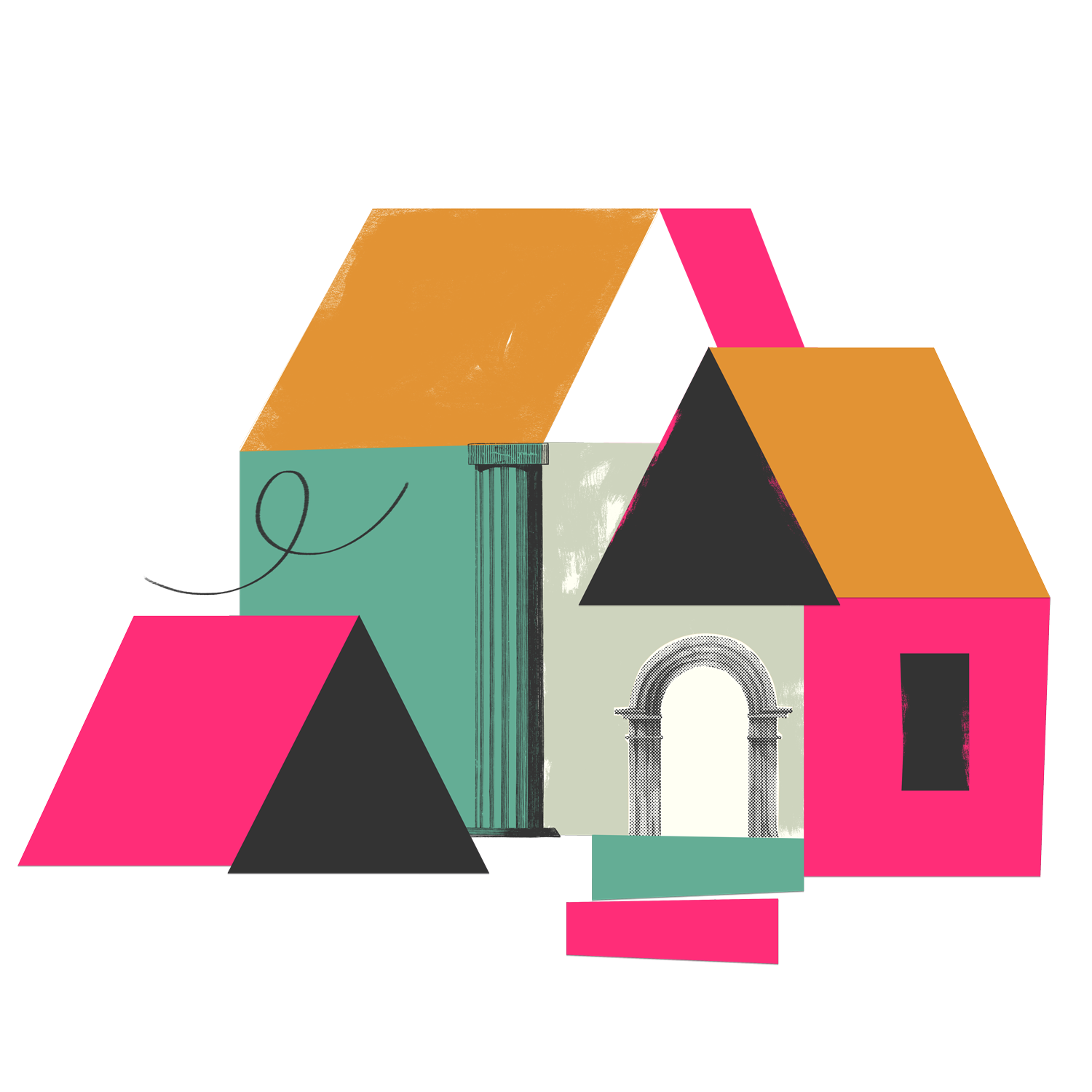Ilustração por Ísis Daou.
Formar-se em Design, hoje em dia, diz muito pouco sobre o ofício de alguém. Trabalhando como designer, é possível que você desenhe automóveis para uma montadora multinacional, elabore layouts para mídias sociais de uma pequena marca, organize grupos de pesquisa com consumidores usando design thinking ou venha a se embrenhar em algum nicho tão específico quanto improvável. Meu caso parece ser esse último: me formei designer há sete anos, mas há três deles vivo e pago minhas contas trabalhando como astróloga e colagista; também me identifico designer, claro, mas essa está longe de ser a minha ocupação principal ou a razão pela qual me oferecem trabalhos. De alguma forma, penso que a insistência nesse ofício ocorre porque eu de fato percebo que pratico design quase todos os dias da minha vida. O pensamento projetual — da mesma forma que a linguagem astrológica por meio da qual eu reconheço o mundo — é onipresente, tal qual um chip implantado no meu cérebro. Aonde quer que eu vá, carrego ambas as ferramentas sempre à mão.
Ingressei na Escola Superior de Desenho Industrial em 2008 com todos os sonhos e expectativas que uma jovem interiorana pode ter. A Esdi realmente mudou a minha vida, e fui muito feliz durante a minha graduação. Entretanto, uma sensação persistia em mim e em meus colegas durante esses anos: a falta de uma perspectiva sólida em relação à profissão. Muitos de nós entramos numa crise existencial a respeito do tornar-se designer, ou mesmo sobre o que isso significaria em nossas vidas. Trabalhar em escritórios especializados de design era uma possibilidade, mas não havia tantos assim disponíveis para absorver os novos profissionais que se formavam todo ano. Ambientes corporativos em grandes empresas costumavam ser uma oportunidade de salários mais generosos, ainda que significasse também um tipo de sobrecarga e incompreensão do seu papel por outros funcionários. A maior parte desses aprendizes-de-designers em crise não vislumbrava uma possibilidade próxima de segurança financeira suficiente para abrir o próprio negócio, ou nem se enxergavam como autônomos — um tipo de trabalho que, além de prescindir de excelentes referências, muitas vezes exige também a exposição pública da própria imagem. Recém-formada, segui me questionando sobre os diferentes papéis que os designers ocupavam e o que havia de comum entre eles — uma tentativa ingênua de definir um tipo de essência ou razão de ser desse ofício, como se, ao identificar essa “real vocação”, fosse possível também enxergar diferentes caminhos de desenvolvimento profissional, pouco ou nada desbravados até então.
Aqui, vale uma digressão histórica para situar um fato que é disparador de alguns dilemas éticos: o design é uma profissão que surge formalmente junto com a Revolução Industrial e que se solidifica como um dos braços do capitalismo. O design se faz presente em tudo que compõe o mundo material construído como conhecemos hoje, da cadeira de escritório em que estou sentada até a interface do Google Docs, de onde escrevo esse texto. Tudo isso foi projetado por uma ou mais pessoas, e onde tem projeto, tem design.
O fato de o design enquanto profissão ter nascido junto do capitalismo industrial é tão intrigante quanto o fato de tantos designers viverem angustiados com a realidade de que o que eles têm a projetar, em maior parte, são bens de consumo problemáticos ou dispensáveis. Por alguma razão o campo do design sempre me pareceu atravessado por um viés bastante idealista, como se pudéssemos ser mais do que isso — como se nossa capacidade projetual estivesse sendo desperdiçada como mera ferramenta da publicidade. Esse era o mote principal do manifesto First Things First, publicado em 1964 e assinado por 21 eminentes designers norte-americanos da época. O manifesto ficou conhecido por ser uma das primeiras publicações a criticar o substancial uso do design para publicização de bens de consumo banais e cotidianos, enquanto seus talentos e imaginação para uma contribuição social mais relevante estariam sendo subaproveitados. O manifesto original hoje soa como um desabafo frustrado sobre a realidade de trabalho do designer numa sociedade de consumo.
Na minha visão pouco otimista em relação ao que eu poderia fazer com o design, uma coisa era óbvia: o mercado de trabalho não era um espaço convidativo a uma atuação demasiado crítica sobre o potencial da profissão, mas o mercado era feito de empresas dispostas a me pagar um salário fixo, e era isso que eu precisava em 2015; foi quando eu entrei no primeiro (e único) emprego CLT da vida. Os anos que vivi atendendo clientes, cumprindo demandas e elaborando artes com agilidade e objetividade para atração de consumidores foram fundamentais na minha formação. Penso que me tornei designer, no sentido clássico da coisa, durante esse período.
A consolidação de uma experiência no mercado de trabalho, no entanto, me pareceu evidenciar que existiam dois principais papéis a serem exercidos por um designer gráfico na minha diminuta realidade: seguir o caminho de um trabalho autoral artístico ou seguir o caminho de um trabalho anônimo corporativo. Muitos de meus amigos e colegas acabaram por exercer um pouco (ou muito) dos dois. Enquanto um trabalho autoral significava correr atrás da construção de uma marca pessoal, viabilizar uma expressão autêntica e poder escolher projetos mais interessantes para si, o trabalho anônimo envolvia desapegar de excentricidades e de traços muito fortes do gosto pessoal, executar repetidas demandas externas e conformar-se ao fato coletivo de que, frustrações à parte, há muito trabalho de design comercial a ser feito, e fazê-lo bem-feito pode ser mais do que o suficiente. Em contraponto a essa dicotomia, alguns setores como o da cultura abarcavam oportunidades em que a autoria e o apelo comercial andavam mais próximos (ainda que os salários também fossem muito abaixo da média). De toda forma, a maioria dos designers atuantes que eu conhecia poderiam se reconhecer em algum lugar dentro do espectro autor-anônimo.
Como uma jovem designer recém-formada, eu estava ótima: o trabalho no escritório ia bem, adorava as pessoas e recebia um bom salário. A partir de algum momento, porém, uma inquietação inevitável começou a me acompanhar e lentamente fui perdendo a vontade de criar espontaneamente qualquer coisa para mim. É muito comum que professores e colegas incentivem os designers a desenvolverem “projetos pessoais”, na formação ou na vida profissional; penso que é uma forma de afagar a angústia ontológica do designer e permitir a ele criar o que realmente deseja, não o que o mundo lhe pede. Criar cartazes, camisetas e outras artes por prazer fez parte de toda a minha vida, muito antes de saber o que era design. Nessa época, porém, ainda que eu conseguisse trabalhar bem e atender às demandas necessárias, criar qualquer coisa que me interessasse verdadeiramente parecia impossível. A crise existencial profissional bateu à porta mais uma vez, e foi aí que eu fiz o que me pareceu mais razoável à época: agendei uma leitura de mapa astral.
Consultar um oráculo é uma atividade que soa anacrônica à nossa realidade comum, pelo menos no meio urbano brasileiro. A experiência oracular, no entanto, foi marco fundamental no meu percurso profissional — e não pelas possíveis previsões que apareciam no meu caminho, mas por ter sido o momento em que eu me dei conta (ainda que inconscientemente) de que existiam muitas perspectivas de compreensão do mundo em que vivemos. Em outras palavras, ali caiu uma ficha sobre o fato de que existem formas distintas de perceber, compreender, organizar e interpretar o nosso entorno: é o que muitos chamam de cosmovisão. A astrologia é um conhecimento que nasce da observação do céu por povos antigos: os primeiros registros identificáveis de sua prática são da Mesopotâmia, 2 mil anos AEC; essa constante observação do céu (motivada principalmente por razões de manuseio da agricultura) foi o que trouxe o entendimento de uma correlação entre os movimentos dos astros e os eventos da Terra. É um conhecimento de natureza empírica, ainda que não científico, já que antecede a criação desse método em muitos séculos. Em termos simples, a astrologia se trata de um espelhamento simbólico percebido entre o céu e a Terra, retratando a natureza das coisas que acontecem no mundo — se hoje, nas cidades, parece uma ideia estapafúrdia notar relações entre esses ritmos, basta estar em maior contato com um ambiente vivo para que as correspondências se tornem evidentes. Um exemplo simples seriam as alterações do comportamento de muitos animais e plantas que variam conforme as fases da Lua: do fim da fase minguante até a nova, quando o céu está escuro, é tempo de recolhimento ou reserva; já as fases crescente e cheia produzem maior movimento e aumento do ritmo de crescimento.
Só fui descobrir tudo isso muito depois, claro. Na prática, o que me ocorreu foi uma leitura de pouco mais de uma hora em que algo me atravessou profundamente, embora não soubesse raciocinar bem o quê. Poucos meses depois, tomada a decisão de estudar seriamente o assunto, comecei um curso de astrologia tradicional. Designer de dia, estudante de astrologia à noite; para alguém que viveu boa parte da juventude entre mudanças e adaptações, viver essa ambiguidade foi um fato corriqueiro. Depois de muitos meses, porém, a ambiguidade tomou forma de uma jornada dupla — trabalhava diariamente no meu emprego e começava a fazer consultas para amigos e conhecidos. De maneira tímida e lenta, nascia ali uma astróloga. E onde ficou o design, nessa história?
Sendo bastante honesta, por mais que eu resista ao uso desse termo, a astrologia me deu uma espécie de propósito profissional; ela mudou profundamente minha relação com ser designer e com o fazer design, como se desenrolasse um emaranhado de nós e fios esquecidos num canto. Nesse relato, cabe ressaltar duas grandes mudanças e aprendizados desse processo: a ampliação da compreensão sobre o valor simbólico das imagens, e o entendimento do valor do design na visibilização de saberes de relevância histórica e cultural. Comecemos pelo primeiro.
A busca de sentido por trás das imagens
“O pensamento simbólico não é domínio exclusivo da criança, do poeta ou do desequilibrado: ele é consubstancial ao ser humano: precede a linguagem e a razão discursiva. O símbolo revela certos aspectos da realidade — os mais profundos — que desafiam qualquer outro meio de conhecimento. As imagens, os símbolos, os mitos, não são criações irresponsáveis da psique; eles respondem a uma necessidade e preenchem uma função: pôr a nu as mais secretas modalidades do ser.” [Eliade, 1979]
Quando busco mentalmente o que me levou a me inscrever no vestibular para cursar design, penso que as imagens foram fundamentais para essa decisão. Tendo crescido numa família nada artística, “design”, para mim, tinha algo a ver com desenhar as páginas de revistas de que gostava, como a Superinteressante. Eu mexia no Photoshop desde os dez anos de idade, amava livros e desenhava plantas de prédios, roupas e personagens no meu tempo livre; não me via como artista, mas sabia que a criatividade era uma necessidade (e também, sim, um talento) que eu tinha. O design pareceu uma decisão lógica.
Na graduação, minhas aulas preferidas eram aquelas que falavam sobre o que as imagens e os arranjos visuais representavam, ou o que provocavam em quem os observava. Aprendi sobre a gestalt dos elementos de um cartaz, os estilos e estéticas das imagens, boas composições tipográficas e tudo que envolvia uma composição sólida e eficaz ao público. Esse público, esse outro a quem a comunicação visual se dirigia, estava implícito em todos os exercícios — as questões de autoexpressão apareciam sempre como algo do qual não se precisava debater ou aprofundar, já que fazíamos design e tínhamos objetivos concretos, não arte sujeita a divagações. No meu fascínio pelo mundo das imagens, manuseá-las e aprender a compor com elas já era bastante interessante. Porém, parecia haver algo abstrato, para além da estrutura formal, que me levava a tomar decisões em relação a um layout; algo que me fazia escolher determinados elementos e ser atraída por alguns estilos e não outros. O interesse que as imagens me provocavam ia além de um treino racional em busca da virtuosidade estética, da eficácia de um bom trabalho. É muito difícil, no entanto, conseguir identificar a falta de algo que ainda se desconhece — e é por isso que dar nome às coisas é tão importante —, mas entendi que me aproximar de uma parte mais artística do design era uma forma de dar vazão à subjetividade que fazia parte daquele universo e eu não enxergava na sala de aula.
Descobri a existência dos designers-artistas que, contrariando a suposta vocação da profissão, tornaram-se ícones reconhecidos por criações brutalmente autorais e autênticas (às vezes até, pasmem, incompreensíveis aos olhos do público). O que mais me interessava nesses personagens era a permissão que pareciam ter para brincar, manusear e fazer o que quisessem em suas criações. Me atraíam os relatos de processo inventivo, o surgimento das ideias, os diários de notas — toda a construção de significado que povoava a experiência criativa dessas pessoas. Um dos motivos do arrebatamento que a descoberta da astrologia tradicional me provocou foi de compreender que aquilo, além de oráculo, também se tratava de uma linguagem simbólica — um código usado para atribuir significados às coisas do mundo, e traduzir movimentos em interpretação de fenômenos concretos. Uma linguagem milenar, aplicável de forma irrestrita à realidade material: foi como encontrar uma chave capaz de destrancar inúmeras portas.
Há mais vestígios visíveis da herança simbólica ocidental do que imaginamos: o logo da Organização Mundial da Saúde, por exemplo, possui em seu centro o bastão de Asclépio, deus mitológico da cura e da medicina; não por acaso, essa é uma figura associada a uma constelação muito relevante para a interpretação astrológica. Conhecer essas origens era como devolver vida às imagens: era entender de onde vieram, seus contextos e os significados que atravessaram os séculos. Alguns anos de estudo astrológico me proveram vocabulário e algum domínio de um código com o qual era possível ler outras camadas das imagens. Tomar conhecimento disso tudo não só me despertou a vontade de investigar acervos históricos, como resgatou o meu prazer de experimentar com eles.
Em janeiro de 2019, tomei então a decisão de deixar meu emprego fixo para me tornar autônoma — a única forma que entendi ser possível para tentar trabalhar como astróloga e designer ao mesmo tempo. Essa foi uma decisão pensada e planejada por anos, já que não poderia bancar uma transição de carreira súbita ou frustrada. Me lancei profissionalmente à astrologia e às colagens ao mesmo tempo: ao abrir espaço para materializar o que fervilhava na minha mente, me pareceu natural unir os dois interesses, usando uma ferramenta criativa para ilustrar e expressar os conceitos e ideias que eu havia aprendido. Até o momento dessa mudança, eu havia feito menos de uma dúzia de colagens na vida; de 2019 para cá, já são centenas.


A partir daí, a colagem se tornou, para mim, uma amálgama de várias tarefas que desempenho. Penso que o colagista olha pro acervo imagético histórico do mundo como um colecionador de fragmentos, pegando uma coisa aqui e ali para guardar consigo. O que isso vai virar, às vezes, só se descobre lá na frente. Há algo de oracular nesse colecionar de fragmentos, e é por isso que o trabalho de colagem começa já na pesquisa e escavação de imagens. Há acervos que eu nunca vou descobrir, imagens que eu nunca vou ver na vida; há outros que me surpreendem com um material precioso para experimentação. Fazer colagem é reorganizar o tempo, ressignificá-lo, assimilar suas diferentes expressões – e, com alguma sorte, transgredi-las. A maior parte dos trabalhos de design que faço hoje é, ao menos, atravessado pela estética da colagem; vários deles também têm a ver, direta ou indiretamente, com essa experiência estudando relações e interpretações simbólicas das imagens nos últimos anos. Isso, invariavelmente, veio até mim por meio da astrologia.
Como questiona Tim Ingold em Making: Anthropology, Archaeology, Art and Architecture, “como abrir espaço para a arte e literatura, para a religião, ou as crenças e práticas dos povos indígenas, numa economia do conhecimento na qual a busca da verdade das coisas tem se convertido numa prerrogativa exclusiva da ciência racional?” [Ingold, 2017]. Não é meu foco aqui aprofundar a questão sobre a hegemonia da ciência como produção de conhecimento, mas a menciono porque sua pertinência se estende a esse relato: uma visão de mundo rígida é algo que esvazia nosso olhar sobre como é possível viver e pensar a realidade. Eu só pude confiar no meu trabalho como colagista e designer a partir da astrologia porque, em algum lugar, pude perceber que havia algo de relevante a ser olhado mais de perto ali. Muitas pessoas jamais irão cogitar a possibilidade de agir a partir de outras experiências de saberes que as afetam por causa do receio de um julgamento externo — o que é até justificado, considerando o volume de desinformação e picaretagem que se encontra sobre astrologia e outros conhecimentos não-científicos nas redes sociais, paralelamente ao movimento atualizado da “caça às bruxas” online que acompanha essas práticas.
O design como um fazer situado
No meio desses territórios em disputa, no entanto, há solo fértil. A astrologia também me deu isso: a consciência do potencial do design na comunicação e desenvolvimento de conhecimentos marginalizados, invisibilizados ou pouco compreendidos. É raro pensar que um designer possa trabalhar comunicando visualmente conteúdos desvinculados da publicidade, e as oportunidades desse tipo de atuação são mesmo incomuns — talvez o primeiro passo seja justamente enfrentar a estreiteza de pensamento, ampliando o olhar sobre o que existe para ser comunicado no mundo. O que nos leva, enfim, ao último comentário sobre esse relato: um (novo) entendimento do design como um fazer inserido em uma realidade na qual é participante.
No meio de crises e questões, é fácil se perder até dos fatos mais simples. Eis um deles: o designer é um fazedor. Fazemos coisas a partir do material que recebemos: briefings, textos a serem diagramados, informações a entrarem num layout, etc. Isso não significa que o trabalho do designer deva ser meramente técnico ou desprovido de envolvimento. Na prática, até o mercado já absorveu a ideia de que projetos de design são melhor realizados quando os profissionais entram em contato com a realidade ou o objeto de sua futura criação; a aproximação do design com a antropologia tem muito a ver com essa mudança de olhar sobre uma atuação meramente técnica do designer para um proponente informado e capaz de projetar soluções mais eficazes aos problemas colocados. Para atuar dessa forma, o designer precisa estar minimamente situado e inserido no contexto com o qual irá trabalhar; no melhor dos cenários, ele é parte integrante da própria comunidade à qual o projeto se direciona.
A minha trajetória passa por ser afetada por um interesse e criar um envolvimento com ele num nível coletivo: a astrologia também me aproximou de uma comunidade e possibilitou tomar parte de discussões e aprendizados, além de criar laços e parcerias com outras pessoas de lugares e experiências variados. Isso tem a ver com assumir uma posição e integrar uma coletividade. A partir de uma vivência autêntica, torna-se possível projetar a partir de observações autênticas, não mera especulação. Nos últimos anos, comecei a pensar que o excesso de transitoriedade no ofício do designer causa, a longo prazo, alguns prejuízos — por trabalhar em múltiplos projetos simultâneos, dos temas mais variados possíveis, torna-se inviável adentrar a fundo o contexto específico que cada um deles apresenta. O tempo do capitalismo não acompanha o tempo de um envolvimento orgânico e extenso, enfim.
Nesse sentido, só foi possível para mim exercer um trabalho de designer e astróloga após anos de dedicação paralela às duas carreiras, uma opção pouco disponível para muitas pessoas.
Quando já exercia essas duas ocupações há muitos meses, lancei o primeiro projeto de design voltado de fato à comunidade da qual agora eu fazia parte: um calendário astrológico anual. Em 2022, chegamos ao terceiro ano consecutivo de criação desse trabalho que, no total das três edições, vendeu mais de 500 unidades. Além desses cartazes, criei em parceria com outres colaboradores zines de temáticas que permeiam o estudo da astrologia tradicional e outras pesquisas. Criar essas publicações como designer para uso astrológico tem sido como desbravar uma floresta: há um mundo de possibilidades para serem experimentadas, mas pouca ou nenhuma referência sobre o quê ou como essas iniciativas podem ser feitas. A resposta da própria comunidade tem sido muito positiva, como se nós (me incluindo nessa) desejássemos coisas as quais ainda não sabemos.
Para além da minha experiência pessoal, penso que existem muitos cenários de participação ativa em que um designer pode exercer e tecer experimentos. Fazer parte de uma comunidade já é algo que ocorre na vida de inúmeras pessoas; não é um fato que essas experiências possam se tornar ocupações rentáveis para todos nós, mas certamente será para alguns. Algumas trajetórias se alargam justamente nos desvios do caminho principal; não se trata de ter certeza sobre o que irá aparecer ao adentrar ali, mas permitir uma investigação. Como escreve o Ingold,
“Aqui, todo trabalho é um experimento: não no sentido científico natural de testar uma hipótese preconcebida, ou de engendrar um confronto entre ideias ‘na cabeça’ e fatos ‘no chão’, mas no sentido de apreciar uma abertura e seguir onde ela leva. Você experimenta as coisas e vê o que acontece.” [Ingold, 2013]

Colagem por Ísis Daou.
Referências:
ELIADE, Mircea. Imagens e Símbolos. Lisboa: Arcádia, 1979.
HARAWAY, Donna. Saberes localizados: a questão da ciência para o feminismo e o privilégio da perspectiva parcial. Cadernos Pagu, Campinas, SP, n. 5, p. 7–41, 2009. Disponível em: https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/cadpagu/article/view/1773. Acesso em: 18 fev. 2022.
INGOLD, Tim. Making: Anthropology, Archaeology, Art and Architecture. Abingdon: Routledge, 2013.
– Sonhando com dragões: sobre a imaginação da vida real. ClimaCom [Online], Campinas, Trad. Sebastian Wiedemann, ano 4, n. 10, Dez. 2017 . Disponível no link.
STENGERS, Isabelle. Reativar o animismo. Trad. Jamille Pinheiro Dias. Belo Horizonte: Chão da Feira, 2017. Caderno de Leituras n. 62. Disponível em: https://chaodafeira.com/catalogo/caderno62/. Acesso em: 21 fev. 2022.