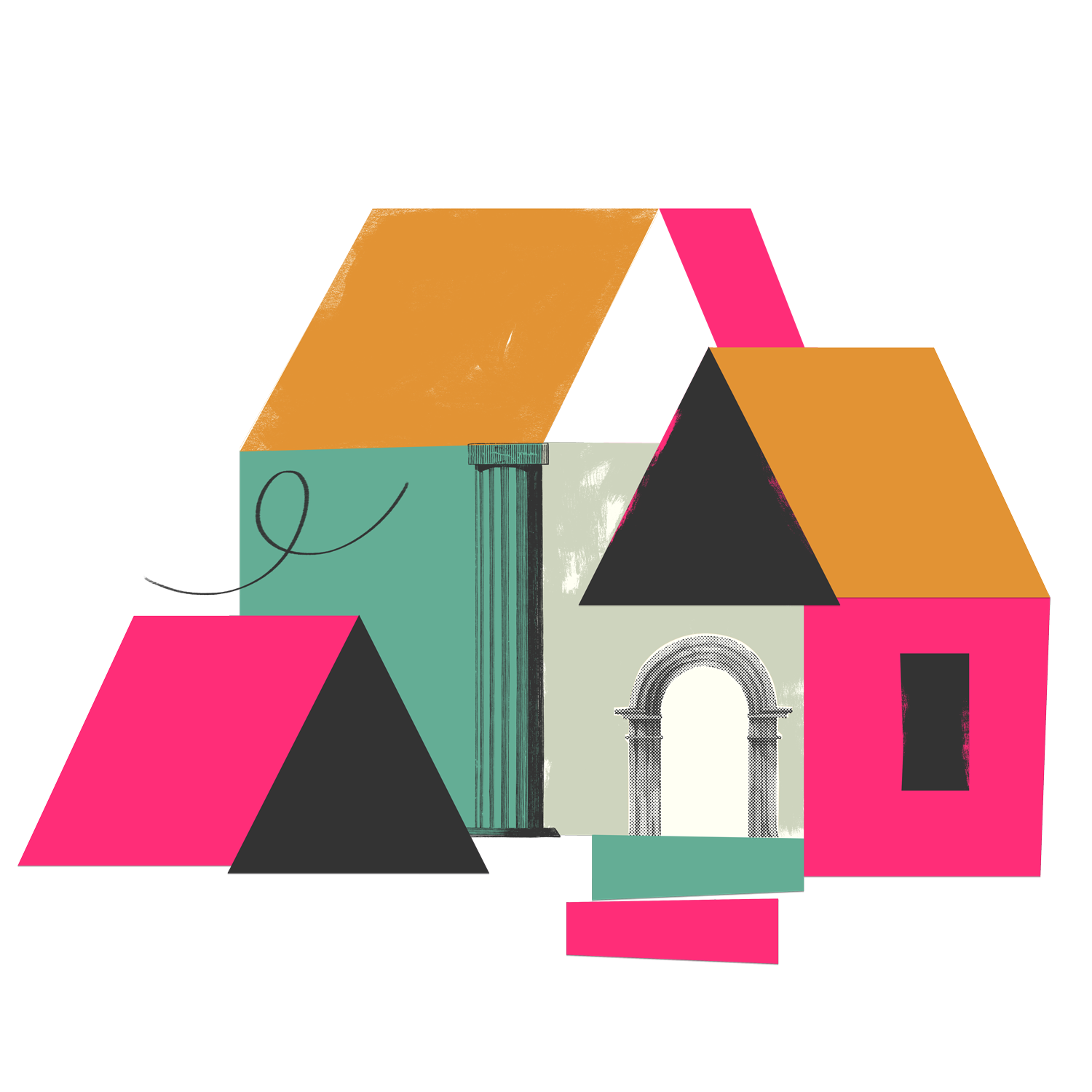Ilustração criada por Vienno (@vienno) especialmente para a Recorte.
Fui colocado na creche ainda bebê para que minha mãe – em sua condição de maternidade solo – pudesse trabalhar. Ela me conta que, quando chegavam os finais de semana, eu chorava para ir à escola. Sempre fui o aluno com menos faltas e não entendia a resistência de outras crianças ao ambiente de ensino. Claro que havia adversidades, ainda mais nas instituições públicas de bairro que frequentei a vida toda. Ainda assim, me deleitava com as possibilidades de estar numa sala com meus pares. Minha euforia era tanta que os ouvidos da minha mãe estavam cansados de escutar a mesma frase nas reuniões de pais e professores: “seu filho é muito inteligente, porém usa todo o seu potencial para o ‘mal’”. Com “mal” eles queriam dizer: eu conversava demais, liderava a turma com ideias subversivas, fazia o resto dos colegas perder o foco. Desde pequeno fui uma pessoa extrovertida com um forte ímpeto de compartilhar minhas ideias, mas as formas como me comunicava geravam certo conflito com a disciplina normativa que os professores tentavam impor.
O sucesso “Another Brick in the Wall (Pt. 2)”, da banda britânica Pink Floyd, faz parte do álbum The Wall, lançado em 1979, mesmo ano em que Margaret Thatcher foi eleita primeira-ministra do Reino Unido. Um de seus versos mais famosos diz: “Ei! Professores! Deixem as crianças em paz!” (N.E.).
Ainda que a sala de aula estivesse sob esse clima de guerra, me recordo com carinho desses professores. Eles reconheciam minhas capacidades, ao mesmo tempo que também repreendiam certos comportamentos. Dentro do sistema de trincheiras disfarçadas de carteiras escolares, alguns parecem nunca encontrar espaço. Se essa afirmação soa como a música “Another Brick in the Wall (Pt. 2)” do Pink Floyd1, é porque é uma realidade: muitas crianças e adolescentes criativos atravessam seus anos formativos à margem, até que, com sorte, entram na faculdade certa e finalmente se encontram. Nela podemos expandir ou reinventar nossa identidade e usar nosso próprio idioma. O desenho do mundo ganha novos contornos.
Minha primeira autopublicação é justamente sobre essa selvageria: COISA FEIA, lançado em 2023 na Feira Miolos em São Paulo. O livro, produzido em parceria com a Costuradus, fala sobre os anos de criança insurgente e espontânea.
Digo isso por experiência própria, já que o curso de artes visuais teve esse papel em minha vida. Na Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas) encontrei um lugar onde instrumentalizar a criatividade “maléfica” dos anos anteriores. A pesquisa incentivada pelo ambiente acadêmico me deu conhecimento teórico e refinamento técnico para acolher aquela selvageria infantil2 – assim, me tornei autor e ilustrador de livros de infância. Em minha produção, faço uso de técnicas como colagem, pintura, desenho e gravura para relatar os desafios de viver em uma sociedade que tanto preza pela obediência e convocar à luz a criança ferida que deseja ter sua natureza legitimada – tópico recorrente nas sessões de terapia.
Trecho de Poder, voz e subjetividade na literatura infantil, de Maria Nikolajeva (Perspectiva, 2023).
A literatura infantil pode, entretanto, subverter sua própria função opressora, pois pode descrever situações nas quais as estruturas de poder estabelecidas são questionadas sem necessariamente serem derrubadas.3
Num dos encontros com Angelina – a terapeuta que me acompanha desde 2019 –, comento sobre a saudade que sinto do espaço acadêmico, onde eu podia me debruçar sobre questões pessoais e pesquisar por dias o mesmo objeto. Mas quem conhece o meio acadêmico bem sabe da exigência para entrar e, principalmente, se manter ali. A escrita de um projeto de pesquisa, as provas e entrevistas são etapas criteriosas que tornam o processo um pouco estressante e fazem o ingresso parecer inalcançável. Já as políticas de permanência – moradia, alimentação e locomoção – para bolsistas ou estudantes de baixa renda parecem insuficientes. Essas circunstâncias me faziam ponderar: será que tento um mestrado? Essa reflexão, a princípio, soou como um sonho distante – possível, porém distante. Angelina me abriu os olhos: ao invés de ser um aluno, por que não ser professor? De repente, contemplei a chegada da minha vida adulta. Depois dessa epifânia, foi como se a criança que se debulhava em lágrimas para ir à creche até nos fins de semana se transformasse no jovem que se esforça para atender o anseio criativo de outras crianças. Numa série de coincidências, no fim de 2023, fui entrevistado em uma escola a 8 minutos de casa. A vaga era minha: me tornei professor de iniciação artística de crianças de 3 a 10 anos.
Em janeiro de 2024, as aulas começaram e foram um tremendo desafio. Se até então eu vinha nadando raso no mundo da infância produzindo livros somente a partir das minhas próprias experiências, agora era convocado a um mergulho mais profundo, em que segurava o ar em busca de uma linguagem primal e comportamentos despidos das amarras às quais nós, adultos, estamos presos para melhor caber na sociedade. Uma das minhas grandes preocupações iniciais era não estabelecer uma hierarquia definida que apagasse as subjetividades das crianças em prol da norma de uma sala de aula – afinal de contas, quando eu estava no lugar delas, foi pelas brechas de poder que me desenvolvi como artista. Com o passar das semanas, compreendi minha função de mediar conflitos, negociar desejos, trazê-las para soluções realistas e incentivar não necessariamente um aprimoramento técnico e estético, mas sim o desenvolvimento motor e a aprendizagem de noções fundamentais a respeito de materiais para que elas possam aplicar os próprios interesses e linguagem aos seus trabalhos.
Na primeira semana de aula, levei na mochila meus melhores cadernos cheios de desenhos dos quais me orgulho. A ideia era mostrá-los às crianças para cativá-las de modo a estabelecer certo respeito e despertar nelas a vontade de aprender. Os planos, claro, foram por água abaixo. Elas até folhearam e acharam algumas ilustrações engraçadas, mas a leitura foi completamente oposta à que estou acostumado quando as compartilho com editores, diretores e colegas profissionais: essas pessoas entendem a dificuldade e o labor por trás dos trabalhos e, por se tratar de adultos com experiência no ramo, esse partilhar acaba gerando trocas mais polidas. A reação um tanto quanto desinteressada das crianças atravessou meu ego, que, felizmente, se esfarelou, me estimulando a exercitar uma versão de mim menos carregada de vaidade e convicção estética.
As crianças são como pássaros livres, donas de plumagens infinitas e de cores distintas entre si. Tudo nelas me parece estrangeiro. Seus assuntos, ânimo, combinação de palavras, linguagem corporal são diferentes do que me é socialmente familiar, e, na posição de adulto, é fácil cair em um preconceito adultocêntrico que julga essa diversidade como uma natureza a que se impor ordem. Esse preconceito se expressa principalmente no abafamento das ideias que os pequenos trazem, na indisponibilidade de ouvi-las com seus gaguejos e buscas prolongadas por palavras, na resistência em fazer uma leitura gentil das reações intensas de quem chegou há pouco tempo nessa Terra tão cheia de regras. Nós adultos não estamos isentos de praticar esse tipo específico de discriminação – afinal, fomos vítimas da mesma cultura. Mas o ambiente de sala de aula me faz rever ações que podem obstruir o crescimento de novas gerações.
A motivação que me levou a ser professor de faixas etárias mais jovens é justamente esse ecossistema raro e cheio de potencial, que infelizmente tende a ser perseguido e muitas vezes torna-se alvo de violências verbais, psicológicas, físicas e sexuais pouco questionadas e combatidas pela sociedade. Comentários como “não gosto de crianças”, “gosto de crianças boazinhas” e “crianças não deveriam estar em qualquer espaço público” (como cinemas, restaurantes etc.) me incomodam profundamente, porque são hostis a um grupo social. Trocar “crianças” por etnias marginalizadas, mulheres, pessoas queer nos aproxima da compreensão do quanto é ridícula a normalização dessas falas que podem acabar legitimando comportamentos agressivos.
Discordo da visão contemporânea excludente praticada contra as infâncias – em especial contra crianças neurodivergentes. Vejo que os responsáveis, professores e outros adultos que cercam essas crianças também tendem a subestimá-las. Mas logo entendo que isso é resultado de uma cultura intolerante. Os pais, em especial, imediatamente receiam que nós, educadores neurotípicos, possamos reagir de forma truculenta e estigmatizante a um perfil autista, por exemplo. Essa preocupação serve como um convite desesperado à paciência. Reconheço o medo do que um filho aluno pode vir a sofrer. No entanto, na sala de aula, essas crianças se mesclam à turma – às vezes com dificuldade, às vezes de forma fluida. Um dos meus alunos, por exemplo, está no espectro autista. No começo, ele se aproximou da turma com timidez, mas, por meio de atividades como o desenho, as outras crianças o acolheram e tiveram trocas significativas (sem necessariamente utilizar a fala, ainda que ele seja muito comunicativo).
Esse ambiente, regido pelo respeito mútuo, funciona independentemente das pluralidades (ou exatamente graças a elas), porque encoraja cada criança a manter sua liberdade e espontaneidade. Entendo minha presença adulta como possibilitadora de confluências, estou ali para catalisar e reunir as produções artísticas da turma para que elas sejam vislumbradas coletivamente. Quando surgem comentários que perturbam a harmonia e reforçam as diferenças como negativas, refaço o caminho tentando incentivá-las a olhar por outro ângulo, que os permita enxergar o potencial do colega através de palavras gentis e empoderadoras.
Nós que ocupamos posições de autoridade é que devemos aprender a cuidar e a ensinar sem tolher distinções em favor de paridades. Enquanto adulto, é minha responsabilidade resgatar a diversidade de contatos e relações que tive ao longo da vida e usá-la como recurso para incentivar a criatividade daqueles que estão em seus anos formativos. Quando crescemos, somos mal-acostumados a frequentar grupos que seguem padrões comportamentais enraizados no senso comum. Essa busca por relações sempre convenientes é um dos tédios da vida adulta. Poucas são as surpresas. A atenção é um grande presente que podemos dar às crianças.
Sou eu quem mais aprende. Desde o momento em que ingresso na sala de aula, sinto que estou aprendendo. Em meu íntimo, alcanço a continuidade da criança artista que desafiava a norma para obter espaço em seus primeiros anos escolares. Hoje entendo melhor toda a complexidade de uma instituição de ensino. Estar nos bastidores me põe diante do sistema de planejamento de aulas, manutenção de salas e materiais, demandas dos pais e da coordenação – são linhas regulamentadoras que estruturam esse ambiente permeado de sensibilidades e miudezas. No fim dessa cadeia está a prática artística coletiva em si, na qual as crianças podem riscar, se sujar de tinta e serem habilitadas para desenvolver novos idiomas visuais. No início dos semestres, traço como objetivo principal a criação de um terreno fértil, capaz de receber variadas espécies.
Sobretudo, essa experiência pedagógica vem surtindo um enorme efeito em meu processo artístico, no qual substituo pouco a pouco as métricas de qualidade instauradas pelas redes sociais e pela academia – enquanto a primeira se baseia em números, a segunda se apoia na adequação a certas convenções que podem enrijecer as etapas criativas – e concebo um novo modelo pessoal inspirado pelas crianças. Para elas, o resultado final e o reconhecimento que ele traz não são os fatores que validam a criação, mas sim o processo, o jogo, a diversão, os contrastes e as descobertas.
Descobrir é a palavra. Experimentar e sobreviver ao descontentamento estético em que nós, adultos, muitas vezes caímos por sermos cheios de expectativas e autocrítica. Exercitar a humildade e admitir outros caminhos, que nem sempre trarão o mesmo “sucesso” que fórmulas trariam, mas que nos apresentarão ao novo. Aprendo com as crianças a tirar os pés do chão para ver mais alto. Esquecemos da habilidade do voo porque passamos a acreditar que carregar pesos é sinônimo de ser adulto. Bobagem, dá para ser leve e ainda assim levar a sério o equilíbrio entre a vida adulta e a infância resgatada através de práticas criativas que nos instigam a voar. A porta da minha gaiola sempre esteve aberta e são vozes em alfabetização que me empoderam a sair dela.