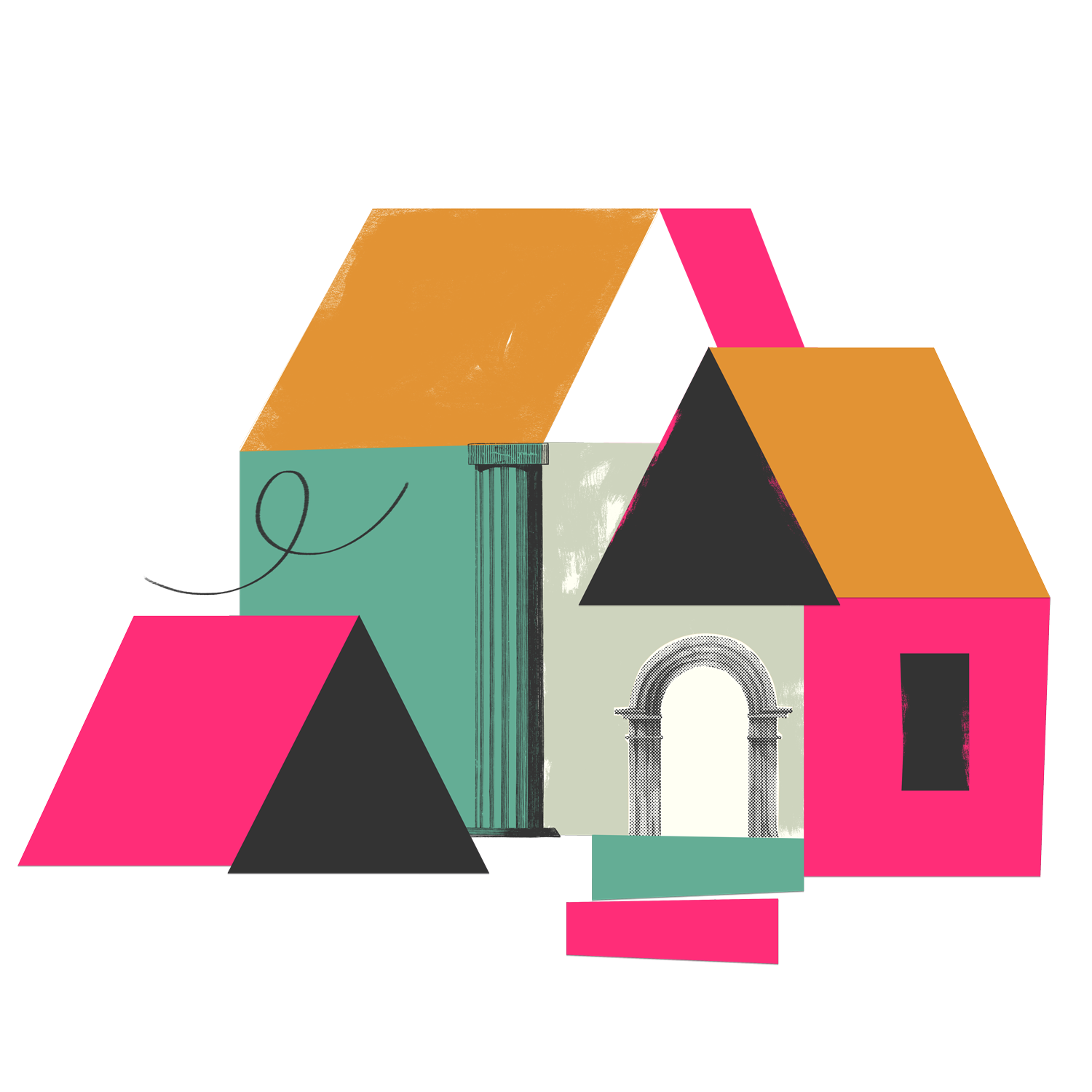Ilustração por Beatriz Batisteli (@oi.beb / @todaoficina no Instagram)
Para quem é da área do design, o nome de William Morris (1834-1896) tem grandes chances de despertar alguma familiaridade. Alguns já terão ouvido falar (e sabem ser uma figura importante, por algum motivo), enquanto outros demonstrarão alguma intimidade com seu trabalho.
O designer inglês (que também pode ser definido como artesão, artista ou, segundo sua biografia mais relevante, “artesão-artista”) é, talvez, a figura mais canônica do design. Esse status lhe foi atribuído, em grande parte, por Nikolaus Pevsner em Pioneiros do movimento moderno, de 1936, posteriormente rebatizado como Pioneiros do design moderno, livro que se tornou seminal para o estudo da história do design.
Isso quer dizer que a imagem mental que muitas pessoas têm de William Morris é a de “o primeiro designer da história”. Não tenho muito interesse em verificar (muito menos em provar) esse suposto pioneirismo, porque parto do princípio de que todo pioneirismo é um postulado arbitrário. Mas ao delinear, ainda que mais ou menos, a percepção que temos dele, conseguimos ter uma ideia geral do peso que Morris tem no design.
De uma maneira ou de outra, fato é que ele é uma figura inescapável na história do design. Pessoalmente, me interessa o fato de que Morris é, ao mesmo tempo, uma figura canônica e desconhecida: ele é um ator histórico dos mais relevantes no design, mas não costumamos parar para pensar de que forma ele atingiu essa posição. Para muita gente, ele está resumido a um ator histórico genérico.
De maneira geral, entendemos figuras canônicas como aquelas que definiram as bases teóricas e/ou práticas de seus respectivos campos. Olhar para esse tipo de personagem histórico revela processos, técnicas, conhecimentos ou resultados que a gente, de alguma forma, já conhece, só não sabia de onde tinham vindo.
Com Morris, no entanto, esse não é bem o caso. Sim, ele foi muito influente em sua época e nos anos que se seguiram à sua morte. Porém, o que mais me admira é olhar hoje para Morris e entender que ele ficou datado. A maioria das ideias dele não sobreviveu até hoje. Entendo isso como um aspecto positivo: estar datado é o que abre caminho para que esse personagem seja surpreendente. As ideias de Morris, me arrisco a dizer, não servem. Mas é precisamente isso que as torna tão fascinantes.
Claro que falo aqui em “servir” no sentido de serem adotadas como padrão do mercado de arte e design – o que, aliás, certamente era o que ele esperava. Morris, na sua fase mais ativa de participação política, se dizia um revolucionário (e um “socialista prático”), buscando encontrar os meios possíveis para o que chamava de uma “mudança nas bases da sociedade”.
Este ensaio é sobre uma dessas ideias “perdidas”. Refiro-me às suas proposições sobre prazer no trabalho. O pensamento de Morris sobre o assunto pode ser resumido com sua frase “A arte é a expressão do homem da sua alegria no trabalho”.
Essa arte, para Morris, não está restrita às artes plásticas ou mesmo ao design. Para ele, a arte funciona como consequência do prazer em qualquer trabalho. Ou seja, a condição para a existência da arte não é o formato que a produção toma (os produtos que usualmente chamamos de arte), mas o fato de que esse produto (qualquer que seja) é, em si, uma expressão de prazer. Resumindo: se expressa prazer, é arte.
Arte coletiva
Para entender a arte nesses termos, é importante ter em mente que essa não é a arte do “artista” no sentido romântico, ou seja, do gênio individual. Aqui falamos da arte como produção coletiva. E, por ser uma manifestação coletiva, ela depende de uma organização social específica para acontecer.
Essa organização, para Morris, é o socialismo. Os grandes inimigos político-sociais do artesão-artista eram o que ele chamava de “sociedade moderna” e a produção industrial. Para ele, não poderia haver prazer no trabalho sob a ordem industrial. Assim, portanto, também não poderia haver arte. Esse era o processo que Morris denominava “morte da arte”. Se a revolução socialista não viesse, a arte estaria fadada ao fim.
A solução de tudo
O prazer no trabalho pode, à primeira vista, parecer algo como um capricho, uma espécie de indulgência. Mas, para Morris, esse conceito amarra todos os outros. Todas as questões políticas, sociais e artísticas que eram caras a ele passam, de alguma forma, pelo prazer no trabalho.
Dá até para dizer que o prazer no trabalho é como um termômetro do contexto geral da sociedade. Ele não é nem causa nem consequência, porém mede a saúde de todo o entorno. Não é causa, porque o prazer não pode ser iniciado nele mesmo. Ele depende de uma estrutura que o permita existir. Por outro lado, não é consequência, pois o prazer no trabalho não é um fim em si mesmo. O fim (no sentido de finalidade) é a existência da arte e o “consolo” ou o prazer na vida de maneira geral que a arte é capaz de gerar. O prazer no trabalho não é um objetivo, mas uma condição.
Ruskin e a Idade Média
Morris deu corpo a uma ideia que pegou emprestada de outro pensador. Ele mesmo fazia questão de frisar que o que professava sobre o prazer no trabalho era inspirado nos escritos de seu contemporâneo John Ruskin, crítico de arte inglês. Mas, embora dissesse que só fazia um eco ao que o “professor Ruskin” já havia falado, a verdade é que Morris levou essa ideia muito mais longe do que seu mentor intelectual.
O que Ruskin afirma sobre o prazer no trabalho está limitado a um breve trecho em “A natureza do gótico”, um capítulo no livro As pedras de Veneza (publicado originalmente em três partes entre 1851 e 1853). Enquanto Ruskin limita-se a afirmar que o prazer no trabalho é uma das diferenças fundamentais entre a sociedade medieval e a sociedade moderna, Morris destrincha esse conceito ao extremo, criando quase uma mitologia própria em torno dele.
Morris, no entanto, parte do mesmo ponto que Ruskin: a romantização da Idade Média. Para ele, o período medieval havia sido o auge da humanidade, e a modernidade seria uma deturpação dos valores daquela época. No fim das contas, o que ele propunha era, simultaneamente, um retorno e um avanço. Um retorno à Idade Média – com valores e instituições já conhecidos – e um avanço ao socialismo, um modelo que ainda deveria ser fundado.
Em relação ao trabalho, Morris queria reviver o modelo de guildas medievais, associações de trabalhadores que se organizavam em um sistema pretensamente horizontal. Para usar um termo mais próximo de nós, podemos imaginá-las, para boa parte dos casos, como oficinas.
Nessa defesa das guildas está mais um dos alvos de Morris: a divisão do trabalho. Esse modelo de trabalho, como estabelecido após a Revolução Industrial, seria um obstáculo ao prazer porque impunha ao trabalhador um trabalho individualista (inclusive incentivando competitividade entre trabalhadores), negando a ele a possibilidade de dominar seu ofício do início ao fim.
Segundo o designer, a divisão do trabalho se utiliza não do “todo de um homem”, mas de “pequenas porções de vários”. Essa era, para ele, uma existência pouco honrosa do trabalhador. Já no sistema de guildas, além de todos fazerem tudo, todos aprendem com todos – outro fator favorável ao trabalho prazeroso.
O que é o prazer
Até aqui, já conhecemos uma porção de elementos que compõem o prazer no trabalho, porém não sabemos exatamente o que ele é. No conceito de Morris, o que estamos aqui a todo tempo chamando de “prazer” é definido como “a aplicação digna das forças de corpo e mente”.
Além das exigências num âmbito macro, no que diz respeito aos modelos de sociedade e organização coletiva do trabalho, o prazer também dependeria de algumas condições particulares para existir.
Essas condições seriam reunidas na “fábrica socialista”, pela concepção de Morris. Em primeiro lugar, ela deveria fornecer uma bela arquitetura e belos entornos (preferencialmente, belos jardins) para a realização do trabalho.
O trabalho nessa fábrica também deveria ser, como já comentado, comunitário e sem incentivo à competição entre trabalhadores. Outros parâmetros para o prazer seriam a ausência de ansiedade no que diz respeito ao sustento; a introdução de ornamento – produção de beleza – no trabalho; a variedade na ocupação e como cada tipo de atividade atende a uma habilidade do trabalhador; o uso limitado da máquina e a redução do tempo de trabalho.
Vale destrinchar melhor o significado da “variedade na ocupação”, pois ela por si só simboliza alguns aspectos relevantes do prazer no trabalho. Essa variedade é a possibilidade de o trabalhador diversificar sua função de tempos em tempos. Ela teria algumas vantagens. Em primeiro lugar, por mais prazeroso que o trabalho fosse, Morris considerava que realizar sempre o mesmo trabalho influenciaria seus níveis de satisfação. Ou seja, todos cansam em algum momento. A variedade faria com que o trabalhador nunca se desgastasse com o trabalho. O segundo motivo é que a variação possibilita ao trabalhador que se engaje com a totalidade dos produtos que produz, não apenas uma pequena parte. O terceiro motivo é que, havendo inevitavelmente trabalhos menos prazerosos que outros, a variedade daria o vislumbre ao trabalhador de que, ao menos, em algum momento ele terá acesso ao trabalho mais prazeroso.
Sobre a mecanização do trabalho, Morris era dúbio. No primeiro momento, foi radicalmente contra as máquinas. Na sua interpretação, elas não aliviavam o fardo do trabalhador e ainda contribuíam para uma queda na qualidade dos produtos. No entanto, se elas fossem aplicadas de modo a facilitar o trabalho – e, portanto, torná-lo menos degradante –, Morris concedia uma espécie de permissão mal-humorada para que elas fossem usadas com parcimônia.
Para Morris, essas exigências da fábrica socialista estavam acima de qualquer outra. Ele sugeria, inclusive, que se houvesse um trabalho que fosse impossível de se tornar prazeroso, que ele deixasse de ser feito, não importava qual fosse. Assim, não haveria nenhum produto ou serviço mais importante do que o prazer de quem os produz.
Willian Morris, “Useful Work v. Useful Toil”, em livro homônimo. Londres: Penguin Books, 2008.
Morris não se encantava muito com a ideia de “progresso”. Ele abriria mão de qualquer avanço tecnológico ou qualquer efeito da sociedade moderna se, em troca, todo trabalhador pudesse alcançar o prazer no trabalho.
É importante reparar também que, para construir esse pensamento, Morris parte do trabalho “criativo” (de artesãos e artistas) como base e sugere que ele seja usado como modelo para qualquer tipo de trabalho. De fato, Morris gostaria que o seu próprio trabalho fosse um modelo universal: ele mesmo atendia a todas as exigências que definiu para o “trabalho alegre” e considerava injusta a disparidade entre o prazer que sentia no seu próprio trabalho e a realidade degradante do resto dos trabalhadores.
As esperanças no trabalho
Da perspectiva do trabalhador, o indicador de um trabalho alegre seria a reunião de três modos de esperança: a esperança no descanso, a esperança no produto e a esperança de prazer no trabalho em si.
“Embora possa haver prazer no trabalho, certamente há dor em todos os trabalhos”1 – essa é a justificativa da primeira esperança. A partir do descanso, diz Morris, “cada um terá lazer abundante para perseguir aspirações intelectuais e outras que sejam compatíveis à sua natureza”. Isso, é claro, associado a menos horas trabalhadas (idealmente, três ou quatro por dia, segundo ele).
A esperança no produto diz respeito ao trabalhador enxergar valor naquilo que produz. Para isso, é preciso que ele possa vislumbrar o resultado do seu trabalho em um produto final, mesmo que não tenha controle absoluto dele. A partir daí, é importante que ele veja o fruto do seu trabalho como um acréscimo valioso à sua comunidade.
Já a esperança de prazer no trabalho em si sugere um ponto em que o trabalhador vê seu trabalho como valioso por si mesmo, como a aplicação digna das suas energias.
O designer como trabalhador
Todo esse conceito de prazer é direcionado à produção de arte, mas é fácil perceber como ele fala sobre design. O objetivo desse prazer no trabalho seria tornar belos “os arredores comuns da vida” – na lógica de Morris, a beleza era o grande objetivo da vida –, ou seja, tornar belo tudo que nos cerca. Produto, serviço, arquitetura, urbanismo, paisagismo. Naturalmente, outros tipos de atividade são igualmente parte desse esquema, mas o trabalho do artesão/artista/designer é de onde esse conceito nasce.
Estabelecendo isso, a conclusão seguinte é a de que, nessa ideia, não existe separação entre o designer e o todo dos trabalhadores. Esse é um aspecto curioso, porque ainda hoje é difícil ver uma conversa sobre design que coloque o designer como parte de um coletivo. O campo parece tomado por discursos que resumem a atividade a um suposto talento individual. O designer poucas vezes é tratado como trabalhador.
O contrário também acontece. Quem é tratado como trabalhador poucas vezes tem a chance de ser considerado designer. Na noção de Morris sobre trabalho, a via é de mão dupla. Tanto o designer é apenas mais um trabalhador quanto o trabalhador pode ser mais um produtor de design. Nessa ideia, o design não é posse do designer.
Uma questão de limites
Existe uma lógica quase matemática nesse pensamento de Morris. Uma soma direta de vários fatores a partir dos quais ele espera um resultado objetivo e previsível. Seus valores em si são românticos, mas o encaixe deles é bastante prático. E, embora possa parecer, pesquisar Morris não significa necessariamente adotar seus preceitos. Eu não o leio esperando encontrar soluções para minha prática, mas sim me envolver com esse pensamento.
Toda a linha de raciocínio é fascinante e existe beleza na forma como as conclusões são exageradas. Morris junta elementos improváveis, como Idade Média e prazer, para chegar a um resultado ainda mais inesperado. A convicção dele também é comovente. A ideia de prazer no trabalho poderia parecer muito específica e muito pequena – perto do todo com o qual um socialista poderia se preocupar –, no entanto, em Morris, ela vira uma lente através da qual é possível enxergar a vida, o nó por meio do qual todos os outros são desembaraçados.
Se a gente se aproximar dessa ideia esperando apenas que ela esteja certa, perderemos nosso tempo tentando justificar a quantidade de furos que ela tem. Aliás, hoje, na prática, poderíamos sugerir pouco ou quase nada dela sem parecermos ingênuos. Por isso, proponho o inverso: retire desse raciocínio a exigência de ser “útil” e veja emergir dele diversas outras maneiras pelas quais pode ser valioso.
Tomo emprestada a conclusão de um amigo: este é um pensamento baseado em limites dos termos. Morris estica a corda de algumas palavras, mostrando até onde podemos compreendê-las, sem que se tornem novos termos. Não é uma questão de definições, ou seja, de saber o que as coisas são, mas de testar o quão longe dá para levá-las. Até onde podemos levar os termos “prazer”, “arte” e “trabalho”.
Este ensaio foi baseado no artigo científico “O prazer como instrumento artístico em William Morris”, que escrevi – com orientação e coautoria do professor Daniel Portugal – como aluno do programa de mestrado da Esdi (Escola Superior de Desenho Industrial da Universidade Estadual do Rio de Janeiro).