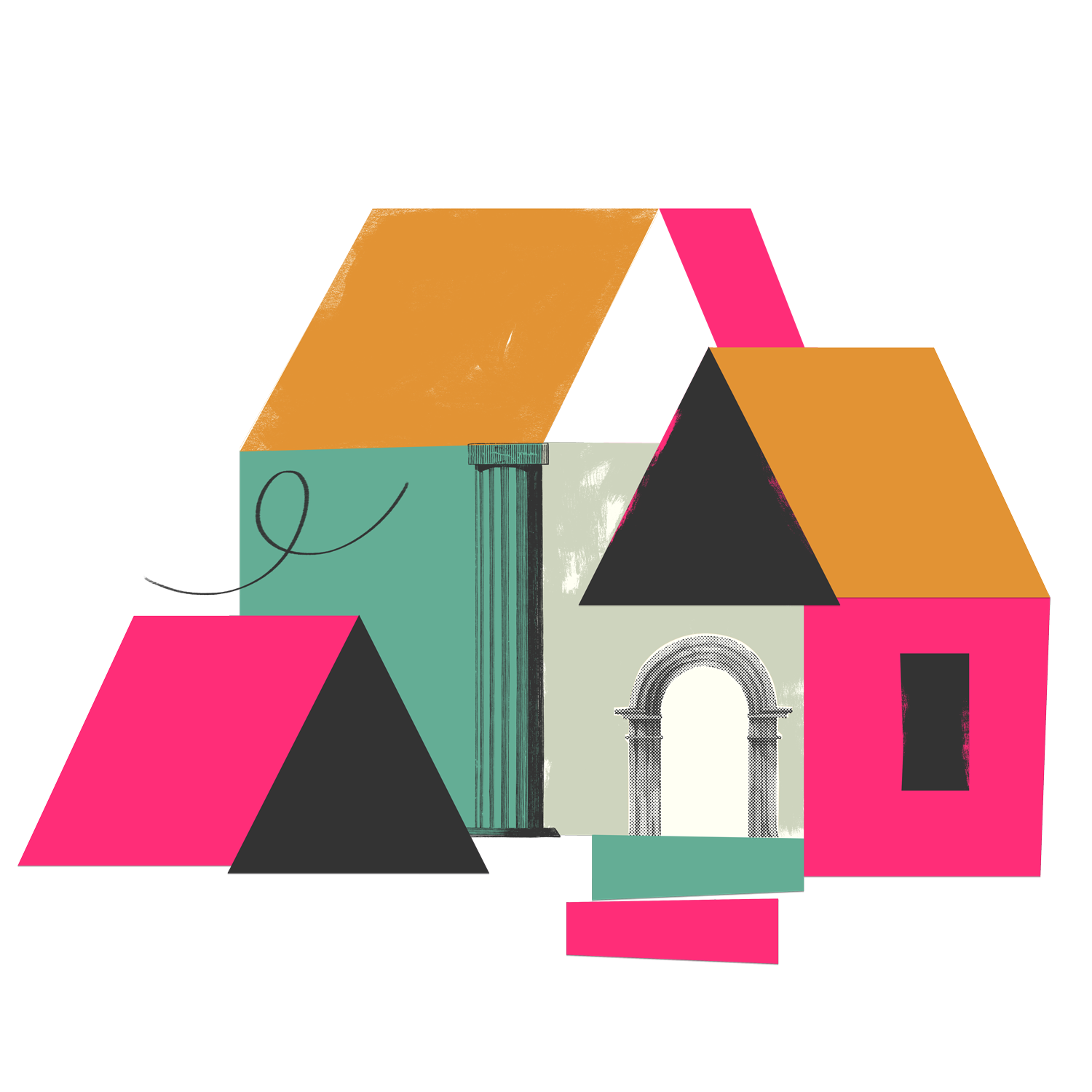Ilustração cedida por Henri Campeã (@henricampea no Instagram).
Foi Henri Campeã, que ilustra esta resenha, quem me apresentou Julio Torres e seu Minhas formas favoritas – descrito na sinopse da HBO Max como “um especial de comédia multimídia”. Portanto, já tinha sido influenciada a assistir, e assistir com olhar de ilustradora. Dá para entender a recomendação: o mundo de Torres, assim como o de Henri, é mágico, mas familiar, povoado por objetos simples somente à primeira vista. Nos 57 minutos do especial, coberto de glitter, vestindo um conjunto prateado e rodeado de formas geométricas e sinuosas em tons pastel, Julio Torres dá uma festa para a sua própria imaginação e faz a gentileza de deixar que a gente compareça. Desde que assisti, há quase um ano, penso nele no mínimo a cada 15 dias. Como a comédia é algo subestimado, preciso dizer protocolarmente que este é muito mais do que um especial de comédia. O que eu acredito, na verdade, é que é exatamente um especial de comédia, e um exemplo do que o gênero pode fazer de melhor: inspirar outro olhar sobre as coisas.
Dizer que Minhas formas favoritas me inspirou é um pouco vago. Inspiração é difícil de explicar porque não implica uma relação direta: penso que é um soprinho, que coloca outros mecanismos da imaginação em movimento. A analogia mais batida para como funciona o pensamento é uma sequência de engrenagens – mas a imaginação talvez seja mais como uma máquina de Rube Goldberg, ou o que os nascidos nos anos 1990 podem lembrar como a abertura do programa Rá-Tim-Bum. Sabe? Um ratinho que corre numa esteira, que destampa uma garrafa, que despeja água num copo, que movimenta uma gangorra, assim por diante, até que, efeito após efeito, a cadeia termina em um objetivo qualquer – apagando uma vela. A máquina de Rube Goldberg é o símbolo do máximo esforço para o mínimo resultado, algo considerado muito, muito ruim no mundo dos negócios. Mas é divertida. Suas relações de causa e consequência não são necessárias, são arbitrárias, inesperadas, às vezes cômicas. São possíveis, mas ilógicas, e, como tudo o que contraria o funcionalismo que tece nosso cotidiano, um pouco poéticas. Assim também é a imaginação, sempre evitando os caminhos mais curtos, fazendo o trajeto de A a B com centenas de paradas aparentemente inúteis. Se, por um lado, é um instrumento muito difícil de domesticar para cumprir prazos e briefings – o que causa em mim uma frustração constante, muitíssimo privilegiada, mas às vezes paralisante –, por outro, é um brinquedo maravilhoso. Os filhos únicos e as crianças estranhas sabem disso muito bem. Com qualquer quinquilharia à disposição, criávamos universos. Bom, é esta a magia de Julio Torres: ele faz parecer possível continuar brincando, e fazer da brincadeira um trabalho.
O melhor jeito de destruir o humor, assim como a magia, é falando demais sobre ele. Recomendo que, como eu, siga o conselho de Henri e vá assistir a Minhas formas favoritas. Se quiser, vá agora (mas volte depois para terminarmos de conversar). Se não estiver com tempo ou com login da HBO Max, me permita contar algumas coisinhas. Para começar, esse especial não é um stand-up: Julio passa a maior parte do tempo sentado. Atrás dele, o cenário não esconde a referência a Ettore Sottsass, com pitadas de Star Trek – foi projetado por sua mãe Tita, que é arquiteta, e irmã Marta, que é designer. Na sua frente, uma esteira automática serpenteia pelo palco trazendo, ao seu comando, pequenos objetos. Quase todo o número consiste nos comentários que Julio tem a fazer sobre esses objetos: um retângulo de plástico lascado, um Ferrero Rocher sem a forminha de papel, uma cadeirinha em miniatura… Quando um potinho de cristal delicado, com tampa, desliza pela esteira e estaciona diante dele, Julio diz: “este sou eu chegando atrasado numa reunião”. Destampando o pote e revelando um cacto com grandes espinhos, completa: “…e imediatamente dando a minha opinião”. Um minuto depois, o cacto, dublado por Lin-Manuel Miranda, faz um monólogo metafísico sobre a sensação de que ele não é o primeiro cacto a ocupar aquele lugar (parece que Julio matou o ocupante anterior sacudindo demais o potinho.
Dá para dizer que Minhas formas favoritas é sobre design, e isso foi dito. Escrever sobre o especial nesta revista também sugere o mesmo. Mas, para mim, essa afirmação enfatiza demais o contexto familiar de Julio, como se crescer entre arquitetos, rodeado de arte e “bom design” fosse uma justificativa – até mais, uma carteira de habilitação – para o seu humor. Capital cultural, claro, nunca é irrelevante para explicar o sucesso de alguém, mas não explica por completo o que é único na sua arte: tantas pessoas são muito eruditas e têm a imaginação de uma cenoura. Acho mais interessante pensar que a inspiração aqui é uma curiosidade radical, que transforma e enfeitiça o banal. Toda a premissa, a direção e o cenário, mas, essencialmente, a mente de Julio, elevam esses objetos descartáveis a seres sencientes, com histórias e personalidades. Alguns têm nomes.
É essa atitude que desperta a memória de quando todos tínhamos mais fascínio pelas coisas – mesmo as mais insignificantes. Quando a gaveta do escritório do meu avô era um baú de tesouros, guardando itens misteriosos como calçadeiras, lencinhos de pano para assoar o nariz e aqueles trequinhos de plástico em que você coloca o olho para ver fotos antigas (que eu nunca descobri como chamam). Dentro do furador de papel havia sempre um punhado de confetes: o resto do papel de onde vieram provavelmente eram documentos importantes, que passariam suas vidas guardados em arquivos – mas aquelas bolinhas tinham ganhado liberdade, e eu deixava que voassem para fora da janela. O grampeador era irresistível, mãozinhas de criança adoram escapar por um triz do perigo. A máquina de fax, que hoje deve estar submersa em algum lugar do Pacífico junto com todas as suas gêmeas, era pura bruxaria. Havia ainda todo tipo de cacareco esquecido pelas duas gerações anteriores da família – meus avós tiveram oito filhos e todos deixaram coisas para trás, nenhuma das quais corria o risco de ser considerada valiosa –, como um bonequinho do Topo Gigio, cartelas de adesivos meio usadas, livros comidos por traças. Se tivessem sido preservados e expostos em uma cristaleira, seriam objetos decorativos – mas inertes. Logo, não seriam mais do que parte da paisagem. Mas como precisavam ser descobertos no fundo de armários na garagem ou no sótão, cobertos de poeira e com marcas de desgaste, eram resgatados ainda com vida, trazendo com eles as histórias dos antigos donos.
Muitas coincidências me fizeram pensar com tanta frequência nas formas favoritas. Lembrei delas assistindo ao filme A pior pessoa do mundo (dir. Joachim Trier, 2021), quando um dos personagens diz que cresceu “em uma época em que a cultura era passada adiante através dos objetos […] você podia viver entre eles, pegá-los, segurá-los nas mãos, compará-los” e colecioná-los. Também me lembrei delas lendo O mundo codificado (que Eduardo Souza resenhou aqui), quando Flusser afirma que “uma parcela cada vez maior da sociedade ocupa-se com a produção de informações, ‘serviços’, administração, sistemas, e menos pessoas dedicam-se à produção de coisas”.
Flusser, como o personagem do filme norueguês, também diferencia coisas e não coisas pela possibilidade de agarrá-las com as mãos. Já há um tempo, as coisas são quase unanimemente tratadas como inimigas, evidência do consumismo irrefreável e da cultura da obsolescência que está nos soterrando em lixo. Flusser, porém, faz uma distinção entre coisas e o que chama de “trastes inúteis”: “Esses restos descartáveis, isqueiros, navalhas, canetas, garrafas de plástico, não são coisas verdadeiras: não dá para se apegar a elas”, escreve. Não há discussão de que o volume em que estes “trastes” são produzidos é insano, há tanto plástico que agora ele já está até dentro de mim e de você. Mas veja só, se mesmo tampas de caneta e canudos não parecem pedras preciosas quando os encontramos em um ninho de pássaro-jardineiro. Não diga por aí que estou defendendo dar plástico aos pássaros, estou apenas viajando na ideia de que o valor das coisas é atribuído.
Nos bons tempos em que alguma coisa ainda custava isso.
E desigualmente, sempre: as coisas dos ricos são exclusivas, colecionáveis e valorizam com o tempo; as coisas da classe média são medíocres, massificadas e sofrem depreciação desde o segundo em que saem da loja. E aí, o que sobra para os outros quer dizer que nem coisa é? Arriscando tomar uma contramão, me pergunto se não é um ato de desafio ver algo de especial nesses objetos – nem que esse algo seja graça. Imagine a produção de Minhas formas favoritas, por exemplo. Talvez tenham sido meses (?) ou até anos (?) descobrindo e selecionando trecos – que, uma vez escalados, precisavam ser tratados com o maior zelo. Imagine que o trabalho de alguém da produção era não perder de jeito nenhum o retângulo lascado, e o de outra pessoa no jurídico era garantir a liberação dos direitos de imagem da batata de plástico com rosto, que Julio batizou de Krisha. Objetos típicos de lojas de R$ 1,991 superando a condição de “trastes” e protagonizando um especial da HBO. Mesmo que não seja um manifesto, Minhas formas favoritas pode ser tomado como um, para quem assim parecer. Julio faz em uma performance o que Waymond Wang, no filme Tudo em todo lugar ao mesmo tempo (dir. Daniels, 2022), fazia em um ato íntimo quando decorava a roupa lavada com adesivos de olhinhos. Pequenas recusas ao massacre do ordinário. Essa é a estratégia. O método é o jogo.
Um trechinho favorito de “O livro das semelhanças” de Ana Martins Marques: “Estou no dia de hoje como num cavalo, você está nas suas roupas como num navio (…)”.
O estranho jogo de semelhanças de Julio Torres mais parece revelar significados que estavam ocultos do que inventá-los. O único motivo para rir do que ele diz é que a pertinência das suas comparações pega de surpresa, abre um buraco na lógica ao mesmo tempo em que faz sentido. Quando ele organiza algumas formas geométricas de acrílico lado a lado e diz que é “o apartamento da Tilda Swinton“, não há qualquer motivo para pensar que a audiência já viu o apartamento da atriz alguma vez – eu, com um conhecimento superficial em Tilda Swinton e nunca tendo visto onde ela mora, de alguma forma entendi a piada, ou criei uma na minha cabeça. A relação inexistente, uma vez apontada, é visível sem nenhum esforço. Fazemos isso o tempo todo: é o que permite que GIFs da Gretchen e da Nazaré viralizem pelo mundo, há muito tempo descolados do seu significado original; ou que alguém faça uma montagem relacionando a série Tapas & beijos ao filme de ficção científica A chegada (dir. Denis Villeneuve, 2016). Quando retomamos memes e referências antigas com novos significados, dizemos que as “ressuscitamos”: trouxemos elas de volta à vida, tiramos elas do arquivo morto da internet. A poesia dá nova vida às palavras pelo mesmo procedimento, revelando semelhanças2 – semelhanças que só conseguimos ver quando o poeta nos coloca de cara com elas, do contrário somos poetas também. Duchamp deu nova vida ao mictório colocando-o em exposição. As comparações de Julio Torres dão nova vida a objetos que outra pessoa apenas jogaria fora. Hoje, Krisha, a batata, segue fazendo aparições no seu Instagram.
Um hábito de criança que nunca consegui abandonar é dar nome às minhas coisas (e, por vezes, às coisas dos outros). O cacto que eu matei se chamava Gonçalo. Um amplificador quebrado que virou mesa de apoio era Peixoto. Mesmo que depois eu me esqueça, sinto uma satisfação imensa quando a correspondência da coisa com o nome é perfeita – é como lançar feitiços pela casa e transferir algo de mim para a coisa, algo da coisa para mim. Reanimação. Fazendo delas formas favoritas, atraso o dia inevitável em que serão lixo.