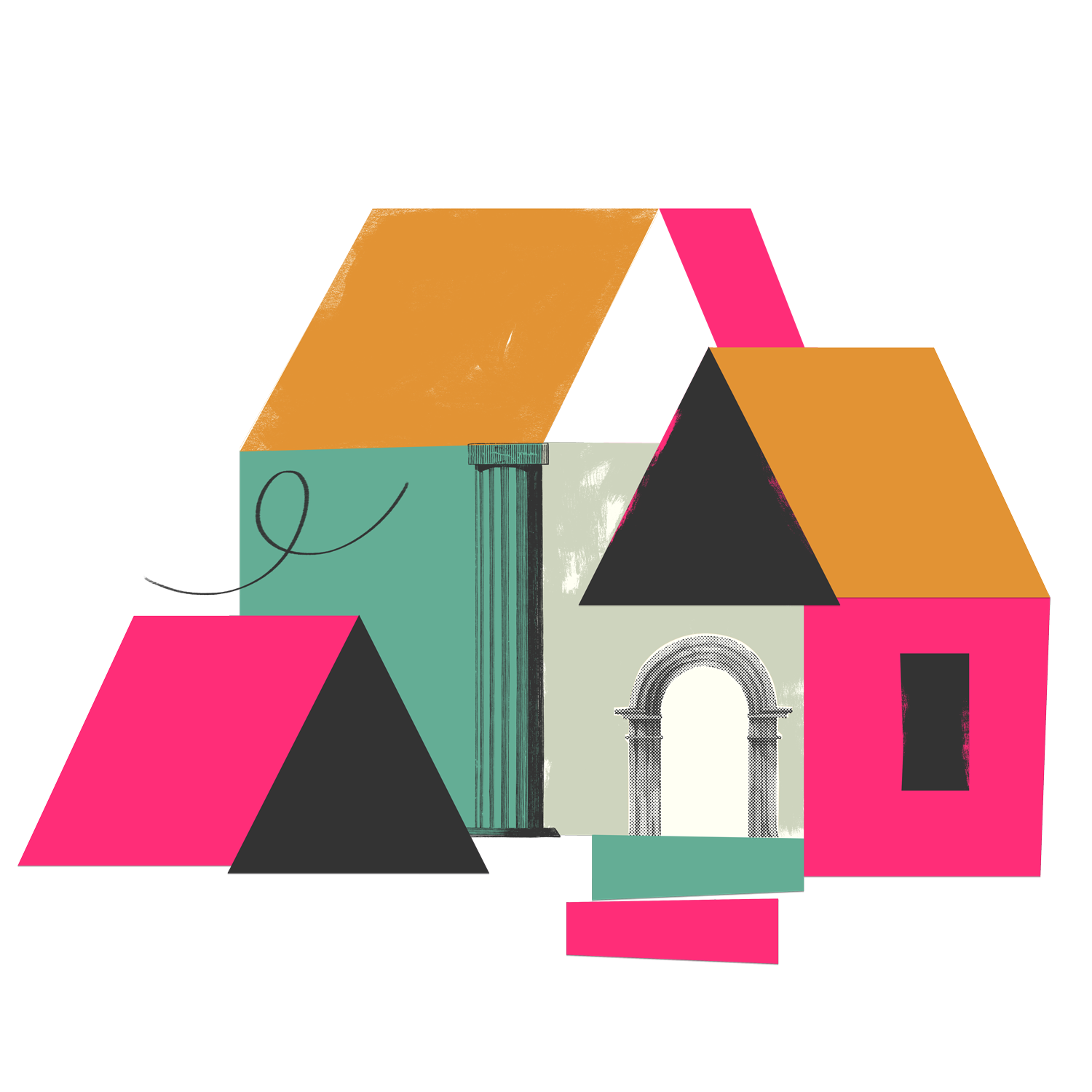A foto que ilustra este ensaio foi clicada por Thaís Ferreira (@onlyfarelos) em uma visita ao Louvre em 2019.
Ao longo da história, os museus e galerias de arte tornaram-se cada vez mais indiferentes às demandas e aos desejos do corpo. Perpetuando um viés ocidental que remonta ao Renascimento, os museus tratam o espectador como um olho desencarnado, associado à mente, à visão, à imaginação, mas raramente a um corpo real. Embora arquitetos e designers, em teoria, estejam mais cientes das necessidades do visitante, o primado do olhar é o que vem ditando expografia e ambiência criadas para a fruição da experiência nos museus.
O banco de museu é um objeto móvel, quase ubíquo, mas frequentemente negligenciado por museus e galerias. Tão rotineiramente ignorado quanto regularmente usado, o banco duro ou sofá aveludado quase nunca aparece nas discussões dos chamados museum studies. Mesmo em manuais arquitetônicos e expográficos explicitamente dedicados aos interiores de galerias e de sua disposição espacial, o banco é relegado em favor de molduras, paredes, cores e iluminação. Quando presentes, os bancos de museu são objetos furtivos, projetados para não chamar atenção – tampouco gerar conforto excessivo – e posicionados para não serem obstáculos literais à atividade real em questão: apreciar a arte. O que poderia acontecer se passássemos a olhar para esse objeto de outra forma?
Neste ensaio, busco refletir sobre o que ocorreria se adicionássemos o banco a uma lista de elementos programáticos que compõem o interior da galeria de um museu. Como essa mudança poderia desafiar algumas das nossas suposições fundamentais sobre as relações exposição-pública e espectador-privado? Como esse objeto poderia mediar novas relações dos seres humanos com o espaço? E, principalmente, por que o banco de museu é um objeto de desprezo curatorial, crítico e cultural?
Desde o surgimento do museu no século 18 até hoje, é comum encontrar algum tipo de mobiliário nos corredores das grandes galerias. Cadeira, banqueta, banco, otomano remanescentes dos palácios reais e salões privados a partir dos quais muitos museus evoluíram ainda habitam esses interiores. Os primeiros bancos de museu participaram como mediadores entre o público e esse novo espaço. Mais do que otimizar a fruição individual da arte, eles eram projetados para facilitar a interação social. Dessa forma, assentos atuaram e atuam nas relações sujeito-objeto, mente-corpo, arte-vida.
Na pintura Le Salon Carré en 1861 (1861), Giuseppe Castiglione retrata a galeria que serviu de berço para a Academia Francesa e ainda é uma das mais importantes do museu do Louvre, em Paris. Na pintura, é possível ver um grande sofá oval estofado em vermelho, centralizado na parte inferior. Sentados individualmente ou em grupos, homens e mulheres leem, descansam, conversam, socializam. Há ainda duas banquetas, também estofadas na mesma cor, uma em cada lado das portas que levam para as outras galerias. Uma copista, destacada no primeiro plano, à esquerda, usa um banquinho para apoiar suas tintas; enquanto outra, na diagonal, usa uma espécie de escada para sentar-se.

Giuseppe Castiglione, Le Salon Carré en 1861, Museu do Louvre, 1861.
Esse cenário serviu de plano de fundo para o romance O americano (1877), de Henry James. Ambientado na Paris de 1868, o livro de James conta a história de Christopher Newman, um homem de negócios estadunidense, que vai à Europa em busca de um mundo diferente – e de uma esposa. E qual lugar melhor para avaliar as opções de pretendentes do que no grande sofá do Louvre? Lá, as pessoas iam não apenas para ver as obras de arte, mas também para serem vistas e admiradas. Já naquela época, James intuía que um museu deveria oferecer aos visitantes mais do que uma oportunidade para admirar as artes elevadas; ele deveria também satisfazer os instintos mais básicos do corpo.
A mudança de galeria privada para espaço público, no século 19, transformou radicalmente a função dos museus na sociedade. Desde então, sua missão foi redefinida: educar um espectador emergente da classe média. E a organização do espaço expositivo deveria criar as condições necessárias para tal: ao oferecer uma sequência narrativa de imagens únicas organizadas por estilo nacional e período histórico, a galeria do século 19 transformou significativamente as convenções de exibição.
Preocupações com categorias históricas da arte, fluência narrativa, controle de multidões e visualização adequada, que viriam a definir o museu do século 19, eram irrelevantes nas galerias privadas dos séculos anteriores. Louis Béroud representou o mesmo Louvre três décadas após Castiglione. Em La salle Rubens au Musée du Louvre (1904), é possível ver a transformação do mobiliário museal. O grande sofá deu lugar a bancos menores e sem encosto. Repouso, leitura e socialização foram banidos, enquanto o ato de contemplar – a apreciação estética da arte – tornou-se a atividade central nos museus.

Louis Béroud, La salle Rubens au Musée du Louvre, Museu do Louvre, 1904.
Benjamin trata desse assunto no ensaio clássico “A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica”, publicado originalmente em 1936 e revisitado pelo autor em 1955.
Esse movimento, porém, é herdeiro de uma série de ações, que, desde o Renascimento, tinha como objetivo focalizar a visão e desencarnar simbolicamente o espectador. O Renascimento, para Walter Benjamin1, foi o primeiro momento em que o valor de culto cedeu lugar ao valor de exposição.
Já a relação entre olhar e saber está presente na filosofia desde Platão. No livro Um olhar a mais: ver e ser visto na psicanálise (Zahar, 2002), Antonio Quinet lembra que essa relação fica evidente quando traçamos um mapa das palavras mais recorrentes na filosofia: “teoria”, por exemplo, vem de contemplar, examinar, observar. Santo Agostinho afirma que “os olhos são os sentidos mais aptos ao conhecimento”, ao passo que para São Tomás de Aquino “a vista é o melhor de todos os sentidos”. Até mesmo Descartes na Dióptrica (1637) conclui que “toda a conduta de nossa vida depende de nossos sentidos e, entre eles, o da visão é o mais universal e o mais nobre”. Mesmo depois de ter sido posta em dúvida por Descartes com seu cogito, a visão permaneceu como modelo de apreensão do conhecimento.
Antonio Quinet comenta a obra de Leon Battista Alberti no livro Um olhar a mais: ver e ser visto na psicanálise (Zahar, 2002), já citado no parágrafo anterior.
Com base no pensamento de Jonathan Crary, presente no livro Técnicas do observador: visão e modernidade no século 19 (Contraponto, 2012).
Com a perspectiva linear do século 15 e artefatos como a câmara escura, os princípios ópticos passam a ser estudados, mensurados, e o olhar dá lugar à ciência da visão. Descrita minuciosamente por Leon Battista Alberti em De Pictura (1435), a perspectiva linear iniciada por Brunelleschi possibilita uma interpretação matemática do espaço visual, e “se constitui um olho do saber, que ordena, geometriza”2. O acúmulo de conhecimento sobre a luz, as lentes e o olho dá origem a uma sequência progressiva de descobertas e realizações que levaram à investigação e à representação cada vez mais precisas do mundo físico3 – é a tecnicidade extracorpórea que passa a ordenar os corpos dos sujeitos dessa época.
A atenção, como Jonathan Crary argumentou em Suspensions of Perception (MIT Press, 1999), tornou-se um problema cultural distintamente novo no fim do século 19. A absorção total na contemplação de um objeto ou na conclusão de uma atividade exigia uma experiência fora do tempo, fora do corpo, protegida da sobrecarga sensorial e do ritmo acelerado da vida moderna. Para Max Nordau, a falta de atenção representava um sinal de degenerescência moral; para William James, uma sugestão de desequilíbrio mental; e para Sigmund Freud, um sintoma de histeria psíquica. A incapacidade de focar a mente, de atender seletiva e exclusivamente a um ponto distinto em um campo sensorial caótico, era, portanto, um sinal de fraqueza e de falta de razão.
Assim, nos espaços dos museus, o olho, libertado das limitações do corpo, é convidado a atravessar o limiar da moldura e entrar no espaço pictórico. A moldura, por sua vez, assume a responsabilidade de dar foco ao olhar do espectador, enquanto ele navega entre o espaço real e o pictórico. As práticas expositivas gradualmente ganharam outras regras: se antes era comum que oito ou nove imagens fossem empilhadas umas sobre as outras, os novos padrões ditam fileiras menos densas de duas ou três. Essa mudança das exibições mistas e multiníveis para arranjos mais lineares e cronológicos exige que tudo dentro da galeria, incluindo os assentos, orquestre uma narrativa maior. Não mais encorajados a se mover livremente dentro da galeria, os visitantes passam a circular ao redor do perímetro da sala.
As imagens dos primeiros espaços expositivos, em última análise, apontam para a crescente incerteza sobre as prioridades dessas instituições, que se perpetuam até hoje: o museu deveria promover a comunhão visual ou o conforto físico, a liberdade individual ou o decoro público, a educação privada ou o entretenimento social?
No início, um museu público era tanto um substituto ao parque em dias chuvosos quanto um templo solene para a arte. Quando a National Gallery foi inaugurada em Londres (1838), as pessoas frequentavam o espaço para ensinar seus filhos a andar ou até para fazer piqueniques. O museu, assim, oferecia o mesmo tipo de refúgio tranquilo da metrópole barulhenta e movimentada que o parque, com o benefício adicional de abrigo e segurança. Os bancos eram posicionados para induzir o olhar para a vista artística, fossem as paisagens externas dos parques ao ar livre ou as pictóricas, dentro dos museus.
O banco museal, portanto, desempenhava uma função semelhante à do banco de parque, fornecendo não apenas um lugar para repouso, mas também uma plataforma para visualização, que abrangia não apenas objetos, mas também outros espectadores. Olhar-para-outros-olhando era uma característica tanto dos primeiros parques quanto dos museus. Em ambos os casos, o mobiliário estrategicamente posicionado facilitava esse duplo ato do espectador. Flertar, brincar, comer, beber, conversar, rir e cochilar eram atividades adequadas para o parque público, bem como para os museus da primeira metade do século 19. Com a consolidação do estado moderno, entretanto, tais ações passaram a ser vistas com desaprovação e até mesmo explicitamente proibidas nos museus.
Tomando como base o pensamento de Michel Foucault, a ideia do museu como parte de um conjunto de agências educativas e civilizadoras fundamental para a formação do Estado moderno é explorada por Tony Bennett, em The Birth of the Museum: History, Theory, Politics (Routledge, 1995).
Isso explica a mudança institucional em relação aos bancos desde o romance de James até os dias de hoje. O banco é a pronta associação do espaço com os corpos que o percorrem. Corpos que formam uma massa, em toda a sua materialidade bagunçada, que ameaçam não apenas danificar as obras de arte, mas também minar ainda mais a noção emergente do museu como um lugar disciplinado4, dedicado à contemplação – desencarnada – da arte.
Assim, a desvalorização dos bancos nos museus aponta para mudanças históricas profundas na percepção e na subjetividade; mudanças provocadas, em grande parte, pela crescente preocupação da modernidade com as virtudes da atenção e com os perigos da distração e de um sujeito indisciplinado. Atentar para o banco de museu é reconhecer o fundamento material da visão estética: sua localização em um corpo real, com necessidades e limitações reais. Esse objeto, apesar de singelo, desvela a visão encarnada em um corpo movente, desejante, que também desfruta de outros sentidos.
Museus de arte moderna como o MoMA em Nova York buscaram gerenciar o espectador reduzindo o número de assentos na galeria, eliminando completamente os bancos ou relegando-os a espaços como saguões e corredores, que funcionam como áreas de descanso. Quando os bancos são permitidos a invadir as salas de exposição, eles são estrategicamente posicionados para a contemplação de uma obra de arte que os curadores consideram especialmente significativa. Mesmo quando presentes, eles são notadamente desconfortáveis. Sem encosto, os bancos dos museus modernos tornam impossível para os visitantes relaxarem facilmente, dormirem tranquilamente ou permanecerem indefinidamente sentados. Assim, esses objetos atuam como mediadores das relações entre os humanos e o espaço, reforçando uma ordem mecânica do espectador sempre de pé, sempre em movimento.
Conceito de Charlotte Klonk, descrito no livro Spaces of Experience: Art Gallery Interiors from 1800-2000 (Yale University Press, 2009).
Ver Clémentine Deliss, The Metabolic Museum (Hatje Cantz/KW Institute for Contemporary Art, 2020).
O espectador como consumidor educado5 é o que vemos nos grandes museus modernos, que tomam emprestado em seus interiores o design de lojas. À medida que os museus se tornam cada vez mais comerciais e a arte ostensivamente mercantilizada, o consumo visual da arte deve muito às estratégias de gerenciamento de fluxo das lojas de departamento, que raramente oferecem assentos nas áreas principais de compras. A cultura do consumo requer corpos em movimento, não corpos em repouso – o banco, portanto, é o anátema ao espaço capitalista do museu moderno6.
“Cubo branco” refere-se ao modelo modernista da arquitetura de espaços para exposição. Trata-se de oferecer à arte um pano de fundo isento, limpo, branco, livre de excessos, ornamentos e efeitos. Para saber mais, recomendo a leitura de Inside the White Cube: The Ideology of the Gallery Space, de Brian O’Doherty (University of California Press, 1999).
Mas se o cubo branco7 deve muito às lojas de departamento, ele também deve à igreja medieval. Não à toa, quando assentos aparecem no cubo branco, eles se comportam mais como bancos de igreja: funcionais o suficiente para que o sentar seja possível, mas de maneira alguma confortáveis. A fórmula é quase sempre a mesma: pernas retangulares de madeira ou metal, sem adornos, sustentando uma plataforma sólida ou ripada, às vezes estofada para adicionar um mínimo de conforto, mas frequentemente sem encostos ou braços de apoio. O banco do museu moderno é projetado para harmonizar com a estética austera do espaço expositivo e, muitas vezes, até para se camuflar nele.
Nesses mesmos espaços, no entanto, os bancos reaparecem como arte; um retorno do recalcado, fruto de um deslocamento significativo de posição. Donald Judd foi talvez um dos nomes mais importantes para esse movimento. No ensaio “Specific Objects” (Judd Foundation, 1964), Judd celebra um novo tipo de arte livre das estruturas tradicionais da pintura e da escultura e concentra-se, em vez disso, numa investigação do “espaço real”, ou seja, tridimensional, através da utilização de materiais comerciais em formas inteiras e unificadas. O escultor, que por sinal recusava esse rótulo, experimentava em suas obras com diferentes mídias, formas e materiais. Muitos dos mobiliários projetados por ele foram feitos para uso próprio e de sua família. Mas, nos museus modernos, eles deixam de ser lugares de pausa e, uma vez declarado seu status de obra de arte, tornam-se intocáveis, ou melhor, “insentáveis”.
Falar de museu capitalista é um pleonasmo, uma vez que esse tipo de instituição só surgiu em um sistema laico, industrial e em uma relação de poder colonizador-colonizado. O museu, portanto, é uma instituição que exibe, legitima e exclui. Para George Bataille, no ensaio “Museum” (publicado na revista October, número 36, 1986), tais instituições incorporam energias contraditórias: há limpeza, mas também uma história “suja”; a arte é secular, mas a experiência pode ser profundamente ritualística. Essas oposições contêm-se e, ao mesmo tempo, se escondem.
A ideia do banco como lugar de socialização e partilha de refeições, orações e discussões é o ponto de partida do trabalho do escultor britânico Francis Cape, Utopian Benches (2012). A obra consiste em vinte bancos, originalmente projetados por comunidades norte-americanas do século 19, que foram reconstruídos por Cape. Ao representar os ideais de comunidade e utopia por meio do artesanato, o artista propõe uma reconsideração de conceitos como: valor, tempo, comunhão, fazer manual etc. Conceitos estes fundamentais para os povos originários e destroçados pelo pensamento iluminista fundante dos museus-capitalistas8. A obra defende formas pelas quais uma categoria de mobiliário, cada vez mais obsoleta, pode ser instrumental para se pensar a propriedade comunitária e coletiva.
O banco também é tema de Finnegan Shannon, inclusive o banco de museu, com ênfase na inclusão e na diversidade de corpos, especialmente aqueles com deficiência. Suas instalações frequentemente incluem bancos com mensagens escritas, como “Este banco foi feito para você descansar”, que desafiam a narrativa de que os espectadores devem estar em constante movimento e em estado de alerta. Finnegan não apenas reconhece, mas celebra a diversidade das necessidades físicas e cognitivas dos visitantes. Seu trabalho destaca a importância de criar espaços que sejam verdadeiramente inclusivos, onde todos possam participar plenamente da experiência estética, sem barreiras ou restrições.


“Um museu é uma instituição permanente, sem fins lucrativos e a serviço da sociedade que pesquisa, coleciona, conserva, interpreta e expõe o patrimônio material e imaterial. Abertos ao público, acessíveis e inclusivos, os museus fomentam a diversidade e a sustentabilidade. Com a participação das comunidades, os museus funcionam e comunicam de forma ética e profissional, proporcionando experiências diversas para educação, fruição, reflexão e partilha de conhecimentos.” Definição aprovada em 24 de agosto de 2022 durante a Conferência Geral do ICOM em Praga.
Até a primeira metade do século 20, eram comuns estudos sobre fadiga de museu (museum fatigue), descrita por Stephen Bitgood no ensaio “Museum Fatigue: A Critical Review”, publicado no periódico Visitor Studies (volume 12, número 2, 2009).
Em 1930, Sigmund Freud aponta em O mal-estar na civilização (Penguin-Companhia, 2011) para a íntima relação entre a perda do olfato – por conta da posição bípede – e uma sexualidade regida primordialmente pela visão.
A relação entre o feminino e o natural versus o masculino e a cultura é explorada por diversos pensadores contemporâneos. No contexto da formação dos museus, ver Tony Bennett, The Birth of the Museum: History, Theory, Politics (Routledge, 1995).
Os bancos de Finnegan são declarações artísticas que questionam a equidade e a inclusão nos espaços culturais. Eles denunciam os corpos capazes de ocupar plenamente os espaços dos museus: jovens, resistentes, típicos, normativos. Ao mesmo tempo, fornecem um lugar de descanso enquanto simbolicamente oferecem um espaço para a inclusão e o reconhecimento das diversas necessidades do público. Através de suas obras, Finnegan amplia a discussão sobre como os museus podem se tornar mais acolhedores e acessíveis para todos – uma ambição em consonância com a nova definição dos museus9, que deve privilegiar os visitantes, de acordo com o International Council of Museums (ICOM).
No museu moderno, o banco continua sendo um lembrete persistente do eu corporificado. Ele aponta para a história ocidental de centrismo ocular, na qual a visão, e apenas a visão, dissociada de um corpo material, serve como sentido privilegiado da racionalidade. Um lugar de pausa, no meio do espaço do museu, o banco significa uma quebra de ritmo no consumo visual expográfico e permite descanso para o corpo e para o olhar, quando não se pode mais concentrar na arte10. Ao mesmo tempo, também convida a um mergulho na obra, a um registro pessoal em forma de desenho, a audição de um audioguide. Sua presença coloca a concentração na frente do fluxo de consumo moderno. O banco de museu, portanto, marca fisicamente os limites do corpo e desfaz a ficção do olho transcendente.
A valorização do ereto e móvel em detrimento do sentado e estacionário por parte do museu moderno traz implicações para os bancos. Em parte, por eles trazerem o sujeito de volta e para baixo, para uma posição de não atenção, mas de abjeção, de submissão, de lazer, de relaxamento – todas posturas profundamente associadas a características animalescas11, ao estigma da feminilidade, da domesticidade e dos corpos sociais não normativos12.
Entendendo que o mundo material não é um espelho das relações sociais e que os objetos atuam como mediadores, produzindo constantemente novas relações, o banco do museu pode interferir na produção do espaço e das relações sociais ali vividas. Os componentes não humanos (paredes, piso, iluminação e especialmente móveis) interagem não apenas entre si e com a arte, mas também com os visitantes. O setting expositivo, portanto, molda as dinâmicas sociais nos museus – desde os comportamentos esperados, até quem se espera que frequente esses espaços.
Os museus, assim, são locais simbólicos que fazem circular efeitos ideológicos. O visitante, aqui, está inscrito numa teia de espaços sequenciados e arranjos de sons, cores e objetos que fornece um “cenário”, que moldam e estruturam a visita de acordo com a estética dominante e interesses sociais.
Tradução livre. A frase original, em inglês, é” “Art should comfort the disturbed and disturb the comfortable”.
Não se sabe ao certo quando alguém se sentou em um banco pela primeira vez, mas há indícios desde a Grécia Antiga.
Hoje, museus e artistas contemporâneos buscam refletir sobre temas como inclusão, diversidade e colaboração. É nesse contexto que o trabalho de Finnegan se mostra relevante e atual. A frase do poeta Cesar A. Cruz, popularizada por Banksy, “a arte deve confortar o perturbado e perturbar o confortável”13 pode ser aplicada também aos espaços dos museus. O banco serve como evidência material de um espectador corporificado que anseia por alternativas mais inovadoras (mesmo quando milenares14) ao vocabulário restritivo e altamente copiado do ortodoxo cubo branco. Sua presença ou ausência, sua forma e materiais (com encosto ou sem; acolchoado ou duro), seu posicionamento (nas galerias ou nos corredores) e seu tamanho são algumas das pistas que o objeto nos dá sobre como habitar esses lugares.
Tomando esse objeto em conta, este ensaio se encerra com um chamado aos profissionais de museus. É preciso imaginar caminhos de estimular (e acolher) diversos corpos e sentidos corporais, afinal, um mero objeto pode moldar organicamente encontros físicos entre pessoas e até mesmo ajudar o personagem de Henry James a encontrar um amor. Talvez, assim, os museus possam (voltar a) ser um lugar de encontro entre arte e vida.